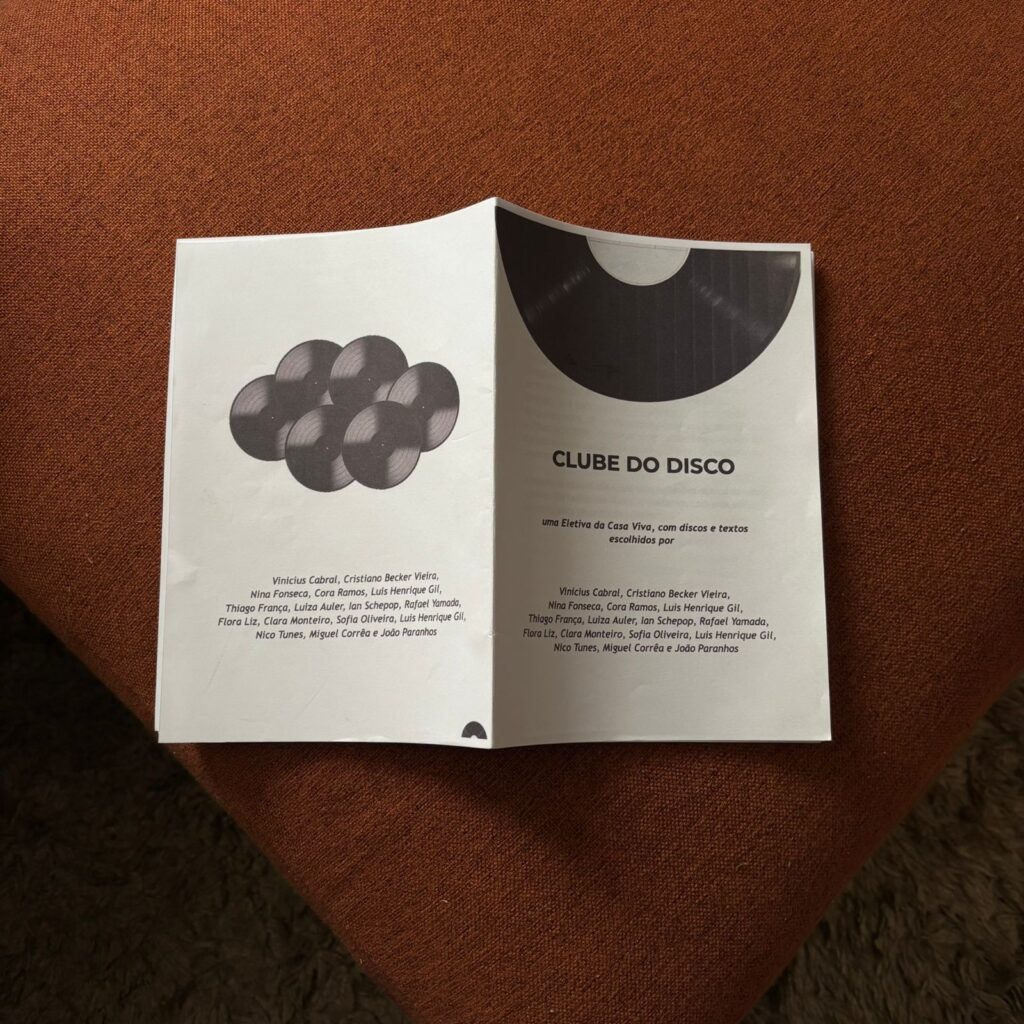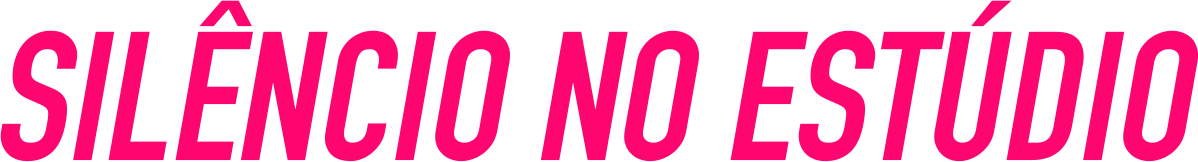Diversos termos tentam dar conta daquilo que vivemos hoje. “Hauntologia”, “fantasmas do futuro”, “realismo capitalista”, “dead media”, etc. São ecos da teoria pós-moderna, quando nem essa (já desde o início bem “frouxa”) consegue dar conta da realidade – de tão irreal que ela passa a se apresentar.
Aí começam a surgir bandas de IA “muito famosas”, o Spotify fala que vai taguear os usuários como bois em um abatedouro digital anestesiante e, a impressão que fica, é que nenhum termo é devidamente apropriado. É como diz o meme do “tapete shoegaze” (ilustrado abaixo para não passar batido). Está decretado: palavras não fazem mais sentido nenhum. Quanto mais termos usados seriamente por menos de uma dúzia de teóricos.

A essa altura vocês já devem estar pensando que esse é mais um texto do Vinicius fazendo campanha pela volta do CD. Mas não é. Eu sei que as coisas nunca voltam da maneira como as idealizamos, e nem quero alimentar nostalgia – que é uma porta de entrada para o fascismo. Não posso nem ficar arrotando o jargão de que “antigamente tudo era melhor”, nem em relação à música. É o exemplo que dei algumas vezes para os alunos do Clube do Disco: hoje em dia eu posso querer apresentar a banda de noise rock japonês Boris pra vocês em uma aula. Isso está à distância de um clique. Não conseguiríamos um acesso tão rápido a obras obscuras 20 anos atrás. Isso é positivo. Ponto.
A minha questão é sempre, refletir sobre o quê exatamente estamos fazendo com tamanho poder (o do acesso facilitado). Já existem estudos sérios demonstrando quedas cognitivas encadeadas pelo uso de ferramentas digitais – dentre os quais este chama muita atenção. Mas isso também não chega a ser novidade. As calculadoras certamente reduziram nossa capacidade generalizada de fazer contas de cabeça. O que não significa que hoje não tenhamos lógicos, matemáticos, engenheiros e muitos outros profissionais absolutamente competentes, capazes de utilizar as calculadoras automáticas mais avançadas do planeta para chegar a fórmulas cuja complexidade seria inimaginável no século passado. Isso é bom. O que fica em questão é: e nós que não somos matemáticos, lógicos, ou o que quer que seja? Perdemos algo de relevante pelo uso sistemático de ferramentas automatizadas de cálculo? Sinceramente, eu não sei.
O que eu sei é que, em relação à cultura, a ilusão do acesso livre e ininterrupto a toda e qualquer obra (ao menos em teoria) vem atrofiando nossa capacidade mental de compreender a cultura. De repente nos vemos inseridos em um ciclo eterno de revivals e pastiches disfarçados de reinvenção, sem a menor consequência. É como o fenômeno Addison Rae. Como os colegas da (incrível) 300Noise falaram aqui, a artista, que ficou conhecida após viralizar no TikTok, não está interessada em fazer parte da história. Para citar diretamente os colegas: “Addison está mais interessada em falar da história do que fazer parte dela, afinal, a temporalidade já não está em pauta (…)”. Se não há mais tempo presente para se cultivar, diante do caos econômico e social que nos é apresentado, a única coisa a se fazer é se enfiar em um aplicativo em busca de um shot temporário de adrenalina, buscando no próximo clique uma nova dança, um novo ritmo, um novo sentido.
Tudo é novidade, e nada seja efetivamente novo.
Mas se eu sou contra a nostalgia per se, e se também sou contra o mergulho niilista e inconsequente no (supostamente) infinito esgoto digital que se abre diante das nossas mãos em uma tela, o que exatamente eu proponho?
Eu proponho a rebeldia. Se o projeto difundido pelo Fórum Econômico Mundial é o “Não terás nada e serás feliz”, então tenhamos algumas coisas – uma bicicleta e um toca discos, que seja (afinal, eles realmente nos deixaram lisos). Se a ideia é pendurar nossos cérebros em uma nuvem, deixando todas as atividades de nosso interesse a cargo de algoritmos, que reaprendamos a fazer as coisas – pode ser um molho de tomate ou um porta-copos, tanto faz. Se eles querem nossa música lavada, esmagada em compressão e cheia de melodyne, que desafinemos novamente.
Podemos olhar para o que seria esta visão fantasma de um “futuro que não foi” – como uma loja de discos às moscas –, como uma oportunidade de reinventar espaços de compartilhamento musical. E se todos esses CDs que nós temos (e vinis também, vai) pudessem ser ouvidos presencialmente por um grupo de pessoas, como fizemos em uma disciplina eletiva de uma escola? E se transformássemos todo este acervo em um museu de audição, debates e de construção de conhecimento?
E se ficássemos offline um pouquinho?
Vocês também não têm vontade de mandar tudo pra puta que o pariu não?
Em tempo: sou sempre adepto da prática (e da práxis), para não ficarmos apenas na base da reclamação. Essa semana se encerra a disciplina Clube do Disco, da qual eu falei neste texto. Como resultado, produzimos um zine com textos dos alunos sobre os álbuns que formaram nossa curadoria. Quer uma cópia? Entre em contato comigo.
Foi foda! É desse tipo de experiência, exatamente, que estou falando.