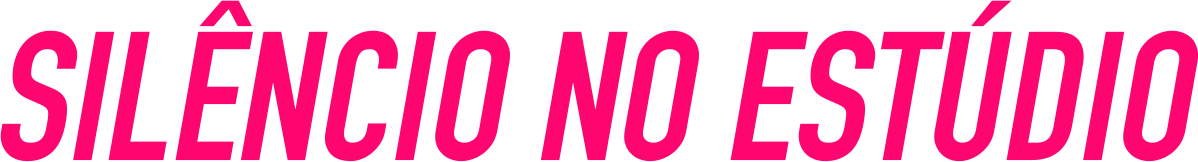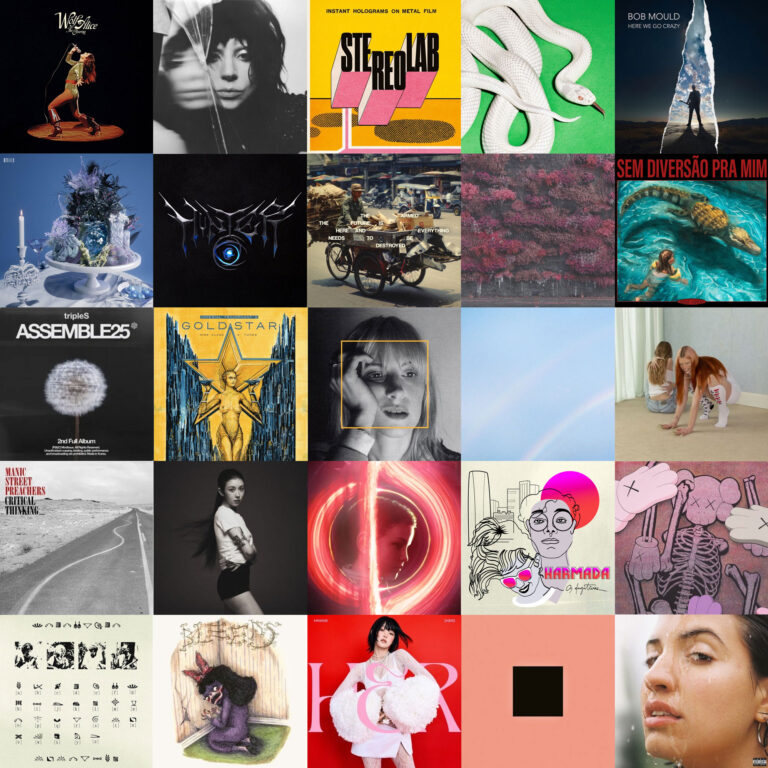Muita gente ficou chocada com a recente escolha da Pitchfork de melhor álbum de 2025. Los Thuthanaka, álbum homônimo do duo formado por irmãos boliviano americanos, é um trabalho realmente bem fora da curva. Eu escrevi sobre o disco tem uns meses, aqui. Nos últimos dias vi comentários do tipo: “uau, um disco que passa 70% do tempo clipando* é o AOTY da Pitchfork, que inspirador!”.
Pois é. Não deveria ser tão surpreendente assim. Pra quem passou (como eu) boa parte dos 00s lendo a revista, não há surpresa em vê-la priorizando álbuns underground, de valor experimental – eu sempre falo aqui de exemplos clássicos, como Person Pitch, Merriweather Post Pavillion e muitos outros (geralmente da 1ª década dos 00). O que surpreendeu, na verdade, foi uma “guinada pop” do site, que provavelmente coincidiu com um aumento de sua audiência e com sua compra pelo grupo Condé Nast em 2015. Na realidade, se pegarmos os álbuns do ano da revista nos últimos 15 anos, dá pra perceber que a virada ocorre em 2010. É quase uma década inteira de álbuns do mainstream dominando a celebração crítica (isso aconteceu com diversas outras publicações alternativas, mas o foco do nosso texto aqui é a P4K, então sigamos):

Da lista, talvez apenas 2011, 2013, 2014 e 2020 tenham sido escolhas mais “indie“. Ainda assim, de projetos e/ou bandas que estavam prestes a furar todas as bolhas e tornarem-se realmente grandes (e de Fiona Apple, que sempre será aclamada em todos os níveis, sendo uma artista que supera a dicotomia underground-mainstream). Uma nova virada acontece apenas ano passado, com Diamond Jubilee, de Cindy Lee. Alguma coisa diferente aconteceu. E é digno de nota também o fato de que os dois últimos AOTY do site sejam obras que mandaram uma banana para os streamings e apostaram em uma difusão realmente independente (cedendo apenas ao Bandcamp, e olhe lá). Mas o quê de fato aconteceu? A resposta simples é que a publicação voltou a suas origens. A resposta complexa passa por todo o estado da crítica dos últimos 15 anos. Ela passou a buscar a vanguarda no tal “pop autoral” – e, antes que me digam que essa ideia de vanguarda é superada, já afirmo que não: ao menos na música, ainda existem atos que desafiam normas, inovam e puxam tendências a partir da invenção.
Seguimos com a resposta complexa. Acabou o poptimism? Aqui cabe um parêntesis: este termo surge quando a crítica começa a levar em conta o fato de que o pop seria “digno de nota”, do ponto de vista da crítica, dos critérios de uma vanguarda. Só que ele se popularizou nos anos ’80, onde haviam bem delimitados dois universos (o pop mainstream e o alternativo), Muitas vezes o que estava no topo podia se dar ao luxo de ser arriscado e inventivo (é só vermos artistas como Prince e Kate Bush no topo das paradas em determinados momentos da década). A partir dos anos ’90 esse cenário começa a mudar, até que os ’00s encarnam um movimento crítico para o pop, que se agarra a uma fórmula e passa a soar tosco. Caricato, até. Mas uma mudança silenciosa ocorre na década passada, com artistas como Kanye West resgatando a excelência do pop dos “bons tempos”, na maior parte das vezes com a assimilação da inventividade que se via nos meios alternativos.
A evidência cabal disso que estou falando é o “episódio Jay Z” no show do Grizzly Bear com Beyoncé em 2009. Na ocasião, o rapper afirmou que o que os artistas indie estavam fazendo era “muito inspirador”. Tão inspirador que todo o pop dos anos ’10 se fiou nestas experiências, passando a encarnar um movimento real de apropriação. E o poptimism voltou com tudo. Inclusive com defesas entusiasmadas, e críticos embarcando na onda de artistas como a Taylor Swift. Aí começa o que eu não consigo nem chamar de poptimism, mas de “Realismo Pop“, inspirado nas ideias de Mark Fisher (autor do conceito de “Realismo Capitalista“).
Adaptando sua máxima**, passou a ser como fosse mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim da “cultura do pop”. Por “cultura do pop” (não confundir com o conceito de cultura pop) me refiro a um contexto em que a música é deixada de lado, em detrimento de números, vendas, engajamento de fandoms, tamanho dos espetáculos, e por aí vai. A indissociabilidade das categorias, promovida em parte pelos feeds infinitos das redes, embolaram ainda mais as coisas, com a equiparação quase que involuntária destes parâmetros.
Em 2025 o LUX, de Rosalía, era o candidato inevitável à aclamação. Saindo da mente de uma artista gigantesca, com toda a grana do mundo da Sony por trás, o disco é conceitual e ousado. Mas tem milhões de problemas – o principal deles sendo a “aparência” de organicidade, que não corresponde de fato à estrutura de (super) produção presente, que se revela, sim, nos ouvidos. Mas o contexto realmente parece ter mudado. No agregado das listas o disco ainda seguiu bem, mas perdeu o primeiro posto para Getting Killed, do Geese – um álbum realmente orgânico e arriscado, que recoloca o rock em um lugar interessante e inventivo.
Acabou o “Realismo Pop”? Pode ser que sim. Mas ainda há consequências desta “década hegemônica” com as quais ainda teremos que lidar por algum tempo. É bastante curioso que a equipe da Pitchfork tenha eleito Los Thuthanaka, enquanto na lista dos leitores o LUX tenha terminado na primeira posição. A própria crítica moldou o gosto da audiência rumo ao “Realismo Pop“. Me lembro sempre de um artigo do mesmo site que questionava porquê o Merriweather Post Pavillion havia sido radical o suficiente para redesenhar o indie, mas não o fizera. A resposta não está no texto (que é ótimo para refletir acerca da banda, e de seu contexto, e só), mas na própria linha editorial da revista pós 2009. Não é que não tenham surgido bandas e artistas, de 2010 até 2020, que propusessem levar o legado da banda de Baltimore à frente. É que estes projetos estiveram ali, em segundo plano. Silenciados pela hegemonia.
Não sejamos cínicos: a ofensiva hegemônica da big tech, destinada a concentrar absolutamente tudo até que não sobre pedra sobre pedra, estimulou todo este contexto. O que passamos a ver, naquilo que de melhor tem sido produzido musicalmente, é uma alternativa. E alternativas, nos tempos modernos, não surgem, nunca, de onde o capital se concentra. Não surgem, nunca, do mainstream. Este pode apenas reificar. Cristalizar ideias e inovações vindas “de baixo” em estruturas “mais acessíveis”.
E os lá de baixo estão, finalmente, sendo ouvidos novamente. Que todos aqueles que se chocaram com a dificuldade de adentrar o universo dos Los Thuthanaka entendam que as invenções não surgem de onde elas podem, simplesmente, ser roubadas.
Há (muito) mais para refletirmos acerca disso tudo. Espero contribuir um pouco para esse debate que, quando levarmos para o contexto brasileiro, inclusive, tomará proporções ainda mais trágicas. Vale a pena dizer também que, se eu estiver certo na minha hipótese de arrefecimento do “Realismo Pop“, a notícia seja a melhor possível. A de que o contexto hegemônico empurrado goela abaixo agressivamente (no mínimo) desde 2010 esteja, finalmente, sendo combatido pela classe artística, que tem buscado alternativas para finalmente parar de ser engolida, humilhada e desconfigurada.
*Clipar é “estourar”: basicamente o que você ouve distorcendo nos fones, quando uma música não foi devidamente masterizada com compressores que evitam o “erro”.
**A máxima: “É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”.