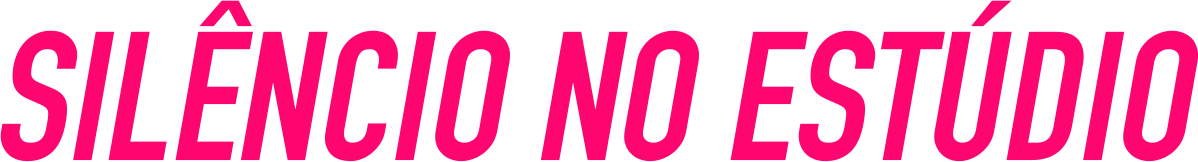A newsletter desta semana é especial apenas com clássicos que se destacam na discoteca dos nossos colaboradores. Muita coisa velha, outras nem tanto, mas sempre com algo em comum: aquele “gostinho” de clássico. Discos que não saem da nossa cabeça e dos nossos corações, independente da época em que foram lançados!
IT’S A CLASSIC
Por Vinícius Cabral
BREAK MY BODY

Não adianta, pessoal. Estou rebelde mesmo e não vou falar hoje do clássico Surfer Rosa, dos Pixies, que ilustra o texto*. O escolhi como motivo e desculpa para falar, ainda, de Steve Albini e do estado das coisas no underground contemporâneo. Existe um underground contemporâneo, afinal? É este o ponto.
Diante da passagem de Albini alguns levantaram um ponto interessante; o de que era muito mais fácil ser antissistema nos anos 80 e 90 do que hoje. Mesmo contrariando os ditames comerciais de gravadoras e do circuito de promoção (MTV, turnês tradicionais, etc) era possível viver de música. Essa era uma realidade para técnicos e artistas; um contexto fértil, com o rock no mainstream, permitiu o florescimento de um cenário alternativo intermediário, com selos menores, bandas que romperam os padrões, e até técnicos rebeldes e transgressores como Albini. Não preciso ficar repetindo isso. Os Pixies, que “ilustram” esse post, são a prova cabal de que as coisas caminharam neste sentido.
O argumento é válido. É muito mais fácil ser antissistema dentro de uma lógica relativamente sustentável de sobrevivência. Mas o fato disso ter se esvaído obriga necessariamente os novos artistas a encamparem a mentalidade do eterno “empreendedor” de si mesmo que vem sido advogada? Não consigo dizer que sim.
A questão é quase matemática. A diferença entre um artista com 100 ouvintes mensais no Spotify e outro com 100.000 é mínima, não em termos de receita, mas de resultados. Suponhamos que o artista de 100.000 ouvintes mensais alcance um milhão de plays no período, nos atuais 0,007 centavos/play. Isso dá, por mês, 7 mil reais, antes dos impostos. E, claro, estou exagerando enormemente ao supor que uma banda com 100.000 ouvintes mensais consiga um milhão de plays por mês, mas sejamos generosos. Vocês acham que dá para uma banda sustentar seus 3 ou 4 membros (ou mesmo apenas dois, se considerarmos um artista solo com seu produtor) + a máquina promocional necessária para manter esses milhares de ouvintes mensais com uma média de plays que não diminua drasticamente em questão de dias (não se considerando, aí, que a banda lance algo novo toda semana)?
A conta é simples. É melhor não investir nessa máquina. Eu entendo perfeitamente o argumento de que “agora é assim, e não temos o que fazer, senão nos invisibilizamos”. Entendo porque vivo isso. Mas o que será que estamos comprometendo, além de nossa saúde mental, ao adotar o atual padrão como “irreversível”, “inevitável”, etc, etc? Não é um padrão irreversível, porque nada é irreversível.
Eu costumo dar um exemplo meio esdrúxulo, mas que ajuda a enxergar o ridículo de nossa situação atual. Imagine que, no meio dos anos 80, uma banda underground como o Sonic Youth (que até já tinha uma base sólida de público, vai) precisasse lançar um álbum nos mesmos parâmetros que um do Prince ou da Madonna, com clipes promocionais de orçamentos hollywoodianos, singles com jabá comendo solto nas rádios, VTs em televisão, outdoors, etc, etc. A banda ia quebrar, porque as vendas de álbuns e tickets de shows não iriam, nunca, pagar o investimento. Adivinhem quem ilustrou isso melhor que eu. Sim, Albini, quando disse que “o erro número 1 que as bandas cometem é achar que elas podem superar um sistema”. Elas não contornarão a estrutura adotando para si os métodos do mainstream. Principalmente porque no mainstream isso se paga. Ponto.
Corta para 2024, e vejam o quão absurdo é uma banda independente produzir um álbum com dinheiro tirado do cú, investir em assessoria de imprensa e, principalmente, em conteúdos para redes sociais em fluxo ininterrupto de “alimentação”, escolher 3 singles do disco (no mínimo) e fazer videoclipes para os 3 e ainda animações, ou “visualizers”, para todas as outras músicas do disco. Já colocaram isso no papel? Quem paga a conta?
Quando a gente se ferra muito, acumulamos todas essas funções. O músico gera o conteúdo, a banda consegue parcerias e roda os clipes de graça. O resultado? Nenhum. Tenha a sua banda 100 ouvintes, ou 100 mil, invista você uma grana que não existe em promoção ou não, o resultado mais provável é que você tenha um brilhareco no início do processo, consiga ali uns fãs fieis, encha dois ou três shows (dos quais a receita também não deve pagar 1/3 do investimento total), e só.
Esse texto não é uma jogada de toalha. Eu não consigo parar de fazer música, e continuarei enchendo o saco de todos com minhas canções, mas é mais uma das minhas provocações. A gente precisa de alternativas. Elas não estão postas. Sabemos que contrariar o sistema construído (descrito acima) não te trará resultados, assim como segui-lo também não. O meio do caminho passa por uma reconstrução da própria ideia de underground, e é essa a inspiração do texto.
Albini teve lá seus privilégios (ter vivido a grande “era do underground“), mas o que mais inspira em sua história passa longe disso. É o fato dele nunca ter mudado sua mentalidade. Dele nunca ter capitulado. Diante da cena que viveu, se fosse pra passar dificuldades ele certamente teria passado, mas não iria abrir mão de produzir música do jeito que achava mais correto; respeitando o artista e não os desejos comerciais arbitrários de uma gravadora.
O que eu sinto é que hoje nós adotamos os desejos comerciais para nós mesmos (como se fossem nossos), simplesmente porque fomos encurralados. O resultado é reproduzirmos o padrão comercial estabelecido para os grandes sem nenhuma compensação por isso. Sem nenhum benefício próprio. Sem sequer conseguir chegar ao “nosso público” que está, pura e simplesmente, sequestrado pelas plataformas e pela lógica de playlists temáticas.
Como propor uma alternativa efetivamente política e certeira, que não redunde em mais fracasso, perda financeira e invizibilização? Eu aceito sugestões.
*Talvez esse texto faça mais sentido a partir de Break My Body, faixa 2.
Por Bruno Leo Ribeiro
FAZENDO COSPLAY DE BRUNNO LOPEZ
![Bon Jovi - Keep The Faith [Special Edition] - Amazon.com Music](https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/2507a927-4079-4323-84fa-d635e3edd931_1000x1000.jpeg)
Desde que vi o ótimo documentário de 4 episódios sobre o Bon Jovi chamado Thank You, Goodnight (que vocês podem assistir no Star+) não paro de ouvir Bon Jovi. Alguns artistas estão ali no nosso gosto e não damos tanta bola. Toca na rádio, já fomos em shows, compramos um CD ou outro quando adolescentes, mas depois de um tempo aquela fase meio que passa. E comigo não foi diferente.
Mas alguma coisa acontece e a gente fica fascinado novamente e entra em um loop e aquela paixão meio que esquecida (ou que você nem sabia que existia) volta. Não vou comentar muito sobre o documentário pra não estragar a sua experiência caso queira assistir.
Dei play no primeirão disco do Bon Jovi e fui seguindo pela discografia completa. Até encarei os discos mais recentes sem o Richie Sambora. Uma observação rápida aqui é que o This House Is Not For Sale de 2016 é muito melhor do que eu lembrava que era. Mas vou voltar pro assunto, porque esse texto é sobre Clássicos.
Depois que terminei de ouvir a discografia toda, acabei eu acabei voltando e ouvindo várias o These Days e o Keep The Faith. Mas o que me pega mesmo é o Keep the Faith.
O disco conta com vários Hinos como I Believe, a própria Keep the Faith, Dry Country (que tem o melhor solo do Richie), a cafonérrima e bonita I Want You, a super brega Bed of Roses (*essa eu quase pulo) e a melhor música do Jon… In These Arms.
Só queria deixar aqui registrado que essa semana eu incorporei o Brunno Lopez e por alguns minutos, virei mais fã de Bon Jovi que ele, mas certamente não tem como ultrapassar ele por muito tempo.
Por Márcio Viana
DO DESESPERO AO CARNAVAL

Flávio Tadeu Rangel Lira, ou Flaviola, como sempre foi conhecido, foi um cantor e compositor pernambucano, que esteve ligado ao movimento Udigrudi, histórico movimento contracultural recifense. Para quem lê nossa newsletter, não chega a ser novidade, já que há pouco tempo falei aqui sobre outro expoente do movimento, o grande Marconi Notaro, responsável pela obra No Sub-Reino dos Metazoários.
Lançado em 1974, Flaviola E O Bando do Sol por pouco não seria o único disco do artista, não fosse o lançamento de Ex-Tudo, em 2020. Lamentavelmente, o cantor acabou falecendo em decorrência da Covid-19 no ano seguinte.
Flaviola E O Bando do Sol, o álbum, é um clássico por várias razões: cheio de participações de gente do calibre de Robertinho de Recife, Zé da Flauta, Lula Côrtes e Paulo Raphael (Ave Sangria), o disco carrega na psicodelia desde o início, na mórbida instrumental Canto Fúnebre, e vai – olha só – formando uma espécie de jornada do herói, da tristeza à redenção, terminando pra cima, dançante, com o frevo Asas – Pra Que te Quero?
A capa do álbum – uma curiosidade interessante que é muito apontada – é bastante semelhante à do disco Opel, de Syd Barrett, lançado apenas em 1988.
Assim como o disco de Marconi Notaro, Flaviola E O Bando do Sol tem letras muito poéticas (inevitável, já que Flaviola musicou trechos de Garcia Lorca e Shakespeare) e muitas delas são contagiantes. A psicodelia pernambucana é um tesouro. Vale demais conhecer.
Ouça no Soundcloud:
Por Brunno Lopez
HUMANOS

O Oficina G3 teve diversas formações em sua carreira e cada uma delas provou o seu valor. Particularmente, a fase do Mauro Henrique junto com Alexandre Aposan foi o ápice da banda, descolando um pouco das canções mais tradicionais e explorando um potencial ainda não investido pelo grupo já veterano.
Pelo título, deu pra perceber que não é dessa formação que eu vou falar, tampouco do Depois da Guerra – álbum em questão. O fato é que, para que esse disco existisse, foi preciso um embrião importante, alguns anos mais para o passado, conhecido por Humanos.
Os próprios integrantes sabem disso e comemoram o aniversário desse lançamento trazendo membros antigos para um surpreendente material ao vivo. Foi acompanhando um pouco dessa apresentação que bateu a vontade de relembrar essa época. E, de fato, Humanos é um grande disco de metal nacional, digamos assim.
PG em grande forma, Lufeh fazendo as vias de Mike Portnoy tupiniquim, Juninho Afram dispensando comentários nas seis cordas, Duca Tambasco em sua performance sempre irreparável no baixo e Jean Carlos com suas linhas marcantes de teclado. Tudo funcionou bem demais aqui, mostrando um flerte nem um pouco tímido com as frases que Dream Theater inspirava naquela época.
Na dúvida, ouçam ‘Onde Está’, ‘Apostasia’ ou a desafiadora de tempos ‘Desculpas’.
É isso pessoal! Espero que tenham gostado dos nossos comentários e dicas.
Abraços do nosso time!
Bruno Leo Ribeiro, Vinicius Cabral, Brunno Lopez e Márcio Viana