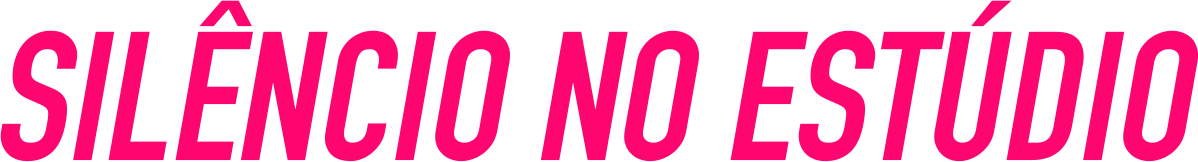27 de fevereiro de 2023
Olá queridos leitores / ouvintes do Silêncio no Estúdio! A newsletter desta semana é especial apenas com clássicos que se destacam na discoteca dos nossos colaboradores. Muita coisa velha, outras nem tanto, mas sempre com algo em comum: aquele “gostinho” de clássico. Discos que não saem da nossa cabeça e dos nossos corações, independente da época em que foram lançados!
IT’S A CLASSIC
Por Bruno Leo Ribeiro
SUBIR PRA RENASCER

2002 foi um ano que expandi e tirei o atraso em muitas coisas na minha vida. Com o advento dos canais de mIRC (referência para pessoas prestes a dar entrada na papelada pra aposentadoria) com a discografia completa pra gente “pegar emprestado” dos amigos da internet, consegui finalmente ouvir a obra completa de vários artistas clássicos que nunca tive acesso. Foi assim com The Who, Prince, Rolling Stones e, claro, Bruce Springsteen. Naquela viagem no tempo, com o Bruce Springsteen ao meu lado no Delorean do Emmett Brown, fui lá pro primeiro disco e fomos andando em ordem cronológica. Aquele catálogo parava no The Ghost of Tom Joad de 1995.
No Born To Run me apaixonei, no Nebraska fiquei fascinado e no The Ghost of Tom Joad fiquei com expectativas de um disco novo. Logo em seguida, depois de 7 anos sem lançar um disco novo e 18 anos sem gravar com a E Street Band, o Bruce se juntou com o Brendan O’Brien (que produziu Rage Against the Machine, Soundgarden e Pearl Jam) e lançou o The Rising.
Era minha primeira experiência como um novo fã de Bruce Springsteen ouvindo um lançamento e desde então ele só lançou disco acima de nota 8, mas isso é um papo pra outro dia. Quando consegui pegar o The Rising emprestado com meus amigos desconhecidos da internet tudo mudou. Ali virei fã do The Boss em definitivo. Era tudo que ele sempre foi, mas com a modernidade de um Rock de Arena contagiante, emotivo e cheio de mensagem boa. O disco conta com “Lonesome Day”, “Waitin’ on a Sunny Day”, “Worlds Apart”, “My City of Ruins”, além da faixa título, “The Rising”.
O disco ganhou Grammys, foi indicado pra tudo que é coisa e esse parágrafo técnico é só pra validar, ou não, meu ponto que o disco é maravilhoso. Mas vamos seguir.
A música The Rising é um hino sobre se elevar. Sobre os trabalhadores subindo o WTC no 11 de Setembro pra resgatarem as pessoas. Todo mundo querendo descer e eles subindo pra um resgate que nem eles conseguiriam se salvar. Até pra fazer uma música de orgulho, o Bruce aponta pra realmente quem merece uma homenagem. É uma música emotiva, que te leva para o topo das emoções. É uma música de resgate, com sua visão social importante, que muitas vezes é confundida com uma visão patriótica boba, mas nunca é.
Neste sábado, 25 de fevereiro, fui até Portland no Oregon pra ver o Bruce pela primeira vez na vida. O repertório foi perfeito, mas a música que mais me pegou e me levou pra cima foi quando ele tocou The Rising. Ali voltei pra 2002, imaginando que um dia eu poderia ver o Bruce ao vivo. Cantando essa música e me esgoelando na hora de cantar em coro aquele “La la la lara lara… Lara laaaa. La la la lara laaaa!”. E foi exatamente, 21 anos depois, que minha alma se elevou. Foi até um lugar que nunca tinha ido num show e me mudou. O Bruno Leo Ribeiro que eu conhecia antes do show começar morreu e um novo Bruno renasceu. Pra cima, feliz, chorando e mais emocionado que antes. Meus batimentos cardíacos chegaram no limite de explodir e me levar pro hospital, mas sobrevivi. Foi uma experiência de pós vida. Mas não vi uma luz branca, vi apenas aquele senhor de 73 anos de idade e seus amigos de banda. Todos em suas idades elevadas e tocando como jovens e com alegria. Entregando tudo em apenas mais um dos shows da turnê. Porque se é pra ir a um show, que seja pra ir pro céu e esquecer do mundo e nos transformar. Com o The Rising sendo cantado por todo aquele estádio, nada seria mais o mesmo. Ainda bem.
Por Vinícius Cabral
A RUÍNA GLORIOSA DE HANNA

Kathleen Hanna é uma das figuras mais importantes da história do rock. E aí vai uma longa lista de porquês. Frontwoman de bandas como Bikini Kill, Le Tigre e The Julie Ruin, o símbolo punk-feminista exacerbou os limites da cultura do rock independente, sendo uma das precursoras do riot grrrl: zine, movimento anti-capitalista. Contracultura na veia.
Apesar da contemporaneidade estar lotada do discurso que o movimento de Hanna representou (diluído comercialmente em mercadoria e clichês, pra variar e, infelizmente), talvez ainda falte conhecer Hanna, a artista. Me incluo nisso. Foi só ano passado que descobri Julie Ruin, uma verdadeira obra-prima que Hanna esculpiu sozinha em seu quarto em 1998, entre o fim da Bikini Kill e o início da Le Tigre. Julie Ruin, que prenunciava o nome da futura banda da artista, é um álbum do estômago e do coração. Mistura lo fi punk com samples, beats eletrônicos, gritos, poesia, inconformismo e realidade. É, como a própria Hanna diz, “um álbum do meu quarto, para me comunicar com outras garotas, em seus quartos”. Parafraseio livremente para tentar transmitir o espírito informal, mas profundamente urgente, deste disco absurdo.
Da categoria “bedroom lo fi”, talvez seja um dos maiores tesouros ainda escondidos. O único link para a obra disponível na internet (até onde acessamos a internet) é o que posto abaixo, com a tracklist na descrição. Embora algumas letras sejam fáceis de encontrar, a tarefa é quase sempre um pouco árdua. Trata-se, realmente, de uma obra ainda na obscuridade quase completa. O que torna, é claro, o exercício de degustá-la e compartilhá-la ainda mais urgente.
Com canções espetaculares, como Apt. #5 e The Punk Singer (que dá nome ao excelente documentário biográfico de Hanna disponível aqui), o disco grita por trás do ruído das fitas. Ou melhor, Kathleen Hanna grita, para que finalmente o mundo possa escutá-la devidamente. Trata-se de uma bomba de um disco, e apenas uma faceta, diga-se, de uma artista completa, seminal e indispensável para tudo o que vivemos hoje.
Kathleen é um coquetel molotov, apontado para o coração de um sistema corroído que já faz hora extra entre nós.
*Em tempo: quem não quiser concordar comigo pode ficar com as palavras do Adam Horowitz, o Ad-Rock dos Beastie Boys e maridão de Hanna, sobre o álbum: “it’s a fuckin masterpiece”. Eu confio. Este casal por acaso alguma vez errou na vida?
Por Márcio Viana
SUAVE COISA NENHUMA

Dos três discos lançados pelos integrantes da formação clássica dos Secos e Molhados logo após a separação, este – intitulado apenas João Ricardo e singelamente apelidado de Disco Rosa, a despeito da capa remetendo ao kitsch, é o que mais traz elementos do que poderia ter sido o terceiro disco do grupo.
Isso porque, assim como nos anteriores, a direção musical e as composições do álbum são todas do próprio João Ricardo, algumas em parceria com seu pai, empresário e um dos pivôs da separação do grupo, João Apolinário.
De resto, o disco tem mais uma vez o baixista Willy Werdaguer comandando os arranjos – com direito a uma citação de sua linha de baixo mais famosa, a de Amor – em Balada para um Coiote. E a autorreferência não para por aí, já que Vira Safado soa como uma releitura mais maliciosa de O Vira, parceria de João Ricardo e Luhli, presente no disco de estreia do Secos e Molhados, de 1973.
Se não dá para saber se um disco do grupo soaria desta forma, sabemos que provavelmente não seria como a estreia solo de Ney, em Água do Céu Pássaro, nem como o disco de Gerson Conrad em parceria com Zezé Motta, todos lançados no mesmo ano de 1975, dividindo as atenções, mas nota-se que ambos representaram para seus criadores uma expansão à qual talvez João Ricardo não estivesse disposto, mais interessado em seguir com o legado do grupo, o que o fez a partir de 1978, persistindo com algumas outras formações.
O que temos aqui, portanto, são alguns grandes momentos líricos e musicais (inevitável que o destaque seja o baixo do argentino Willy Verdaguer, mas vale destacar que o guitarrista do disco era ninguém menos que Roberto de Carvalho, posteriormente dono de extensa parceria musical e conjugal com Rita Lee). Destes, vale a menção ao espertíssimo título Os metálicos senhores satânicos, a divertida levada de Se sabe, sabe, e Rock e Role Comigo, canção que recentemente foi encontrada em uma gravação de uma apresentação dos Secos e Molhados em 1974, pouco antes do lançamento do segundo disco e da separação do grupo. O material foi encontrado pelo onipresente pesquisador Marcelo Fróes, que à época (já durante a pandemia) declarou não pensar em buscar meios de lançar oficialmente a gravação. Por aí se nota o tamanho da confusão que isso deve causar ainda hoje.
João Ricardo, o álbum, não está nas plataformas de streaming, mas sempre há uma boa alma que disponibiliza uma versão no YouTube.
SCENES FROM A REACT

Reacts costumam ser uma forma de sentir a mesma sensação que tivemos pela primeira vez que escutamos tal coisa. Quem me disse isso foi ninguém menos que meu xará Buno Leo Ribeiro e confesso que num primeiro momento fui muito reticente com tal definição. Porém, provavelmente com o vídeo certo e a música certa, essa percepção mudou completamente.
O vídeo em questão veio impactante, justamente sobre uma das canções do meu disco favorito do Dream Theater: ‘Glass Prision’ do 6 Degrees of Inner Turbulence. A forma com que o canal KING KTC absorve todas as infinitas mudanças de tempo e ambiência me fizeram ressuscitar o deslumbre por cada pequeno detalhe dessa música.
Fica aqui o registro imortalizado dessa experiência que recomendo a todos que façam com suas canções favoritas. Obrigado xará!
É isso pessoal! Espero que tenham gostado dos nossos comentários e dicas.
Abraços do nosso time!
Bruno Leo Ribeiro, Vinicius Cabral, Brunno Lopez e Márcio Viana