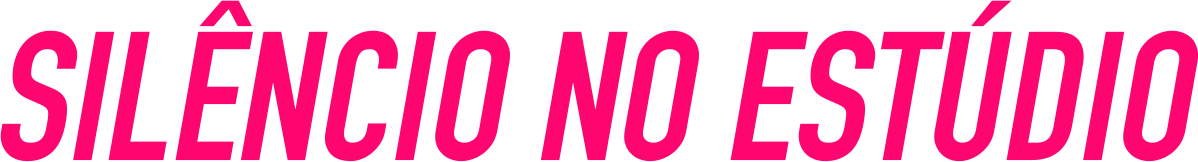29 de novembro de 2021
Bom dia, boa tarde e boa noite queridos leitores / ouvintes do Silêncio no Estúdio. Na newsletter desta semana nosso time destaca lançamentos que têm feito suas cabeças.
LANÇAMENTOS
Por Bruno Leo Ribeiro
MUITO BOM! MAS NÃO É PRA MIM.

Adele continua criando músicas pras audições dos The Voices do mundo com maestria, mas a música dela não é pra mim. Respeito e admiro a figura dela e os fãs precisam ser respeitados, mas estou aqui pra colocar a minha visão do que achei sobre o 30, disco que ela fala sobre o sofrimento do seu divórcio.
Adele sofreu muita crítica, além do plágio do Martinho da Vila, no 25 por ser muito parecido com o disco anterior, o 21. O que será que ela aprontaria pro 30? Jogaria no seguro ou tentaria ousar? Ela convidou um time de produtores superstars, mas quando saiu o primeiro single Easy on Me, todo mundo achou que seria a mesma coisa de sempre. É bom, mas nada de novo. Já no disco ela saiu timidamente da sua zona de conforto, mas é bem timidamente mesmo.
O disco começa com uma música que eu achei estranha com o renomado compositor da Suécia Ludwig Göransson. Não é um épico, também não tem cara de abertura de filme e também não me traz emoção nenhuma. Achei uma música tentando ser experimental, mas sem nada que chamasse a atenção.
Segue com a já comentada Easy on Me que não tem nada de novo e em sequência a música My Little Love me chamou atenção. Tem emoção, tem tempero e tem até conversas gravadas. Uma música bem emocional. Essa eu gostei muito.
Em Cry Your Heart Out, há uma tentativa de ser meio reggae / meio dub… acho que não funcionou. Tem uns efeitos na voz na introdução que achei bem estranho. Já Oh My God é uma música bem Pop. O refrão é bem legal e rola um ótimo groove que rola de dançar.
Eu gosto muito das coisas que o Max Martin faz, mas em “Can I Get It” eles erraram. Música bem bobinha. Nada demais. O assobio do refrão é muuuuito parecido com Tom’s Diner da Suzanne Vega, então a gente finge que não percebeu. “I Drink Wine” tem uma vibe Jazz / Elton John que curti. Ótima música.
“All Night Parking” usando um sampler do pianista de Jazz Erroll Garner tocando de fundo eu achei bem bem bem foda. Nota 10 pra esse interlúdio. “Woman like Me” é legalzinha. Não compromete o disco. Mas não me emocionou.
Segue com a apenas boa “Hold On” e depois “To Be Loved”, que tem cara, cheiro e formato de super balada romântica. Nisso ela entrega com maestria. Talvez a música mais emotiva do disco, mas tem o que mais me incomoda na Adele… sua interpretação que tenta o tempo todo provar que ela canta muito bem. Todo mundo já entendeu que ela canta muito. Não precisa de tanta firula e gritaria. (Tem uma falha de produção que a voz corta por um micro centésimo de segundo em 4:57-4:58 da música. Imperdoável isso ter passado). E aí o disco fecha com a boa “Love Is a Game”. Um soul com feeling e produção dos anos 70. Cara de trilha de filme.
Eu percebi o 30 como um disco pra fã e pra calar alguns críticos, já que ela tentou ousar e não fez exatamente as mesmas coisas, mas achei o disco longo e cansativo. No final eu estava exausto. Mas se Adele é pra você, é um bom disco pra lembrar do fim do ano de 2021 no futuro. Juro que abri meu coração pra ouvir com carinho e tentar ser o mais justo possível, mas eu gostei de 3 músicas do disco e só confirmei que Adele é maravilhosa, mas não é o tipo de chá inglês que gosto.
Por Vinícius Cabral
SEGUE O BAILE

Baile é um disco histórico.
Em primeiro lugar, porque presta uma homenagem à tradição da Música Popular Eletrônica Brasileira. Sim, eu falei Música Popular Eletrônica Brasileira. Isso existe, de norte a sul do país, embora tenha sua expressão mais popular, talvez, no famoso funk (que já deixou de ser só carioca a muito tempo). Funk, por sua vez, que é fruto de uma apropriação completamente antropofágica de uma batida criada em 1981 pelo Kraftwerk, sampleada por Afrika Bambaataa no ano seguinte, e transformada em charme e melody nas favelas cariocas – e dali, claro, para outros cantos do país, como em BH, onde o Miami já rolava nos tradicionais bailes de periferia. É a verdadeira (e ampla) cultura Miami Bass, que envolve a famosa batida, os bailes, os passinhos, as letras conscientes e dramatúrgicas. Certamente todos já ouviram estes elementos nos mestres Cidinho & Doca, MC Bob Rum ou MC Marcinho. Pois é. Este é o primeiro valor histórico de Baile: apropriar todo este contexto e trazê-lo a 2021.
E aí é que está o pulo do gato desta brilhante obra belo-horizontina, periférica e inovadora: ela não olha para o passado com nostalgia. Baile não é retrô para ser cool, ou para lacrar nas redes sociais. O resgate do Miami Bass aqui é um recurso necessário para se contar uma história. Trata-se de um disco conceitual, que retrata a história de um rapaz da comunidade Cabana do Pai Tomás (importante e tradicional ocupação de BH e bairro de Fabrício Soares, o FBC) que, apaixonado, ensina um passinho para uma mina, para ter o coração partido ao vê-la dançar o passinho com outro rapaz no baile. Uma história de amores platônicos, decepções, expectativas, sonhos e frustrações. Uma história que precisava do Miami Bass – e que, fortuitamente, se anuncia no subtítulo “Uma Ópera Miami”. Eu vivi a explosão do funk carioca nos anos 90 (até hoje tenho uma cópia em vinil do Rap Brasil 1). Ainda assim, nunca ouvi nada igual a este disco. Um álbum conceitual … Miami Bass.
Agora, claro, é necessário apontar os trunfos estéticos. Mesmo sendo um trabalho minucioso de resgate dos timbres, tons e batidas do Miami brasileiro (nas bases brilhantemente produzidas pelo Vhoor), o disco não soa retrô. No fim das contas, porque parece que aquela batida é mesmo atemporal. Ou então, porque ela poderia ser utilizada novamente, desde que com algum sentido novo. E isso FBC, com suas melodias e letras narrativas e densas, e Vhoor, com seu senso estético apuradíssimo para os timbres e estilos do eletrônico brasileiro, fizeram com maestria. O resultado são clássicos instantâneos, como Quando o DJ Toca (para mim a música brasileira mais bonita do ano), Se tá Solteira, ou Delírios. Todo o andamento do disco, aliás, com modestos 27 minutos, é um deleite. Não há batida, sampler ou verso desnecessário. Gato escaldado do hip hop mineiro, FBC teve a sensibilidade (e a inteligência) de mandar os modismos estéticos ligados ao trap e ao pop contemporâneo pro espaço, focando em uma história e em um mood bem específico, retratados de uma maneira universal.
Deu muito certo.
Baile é o que acontece quando talento, coragem e propriedade histórica se unem em uma obra musical.
Por Márcio Viana
O PURPLE CONTINUA PRONTO PRO CRIME

Devo admitir que minha relação com o Deep Purple é de complacência. Ainda que o hard rock não seja mais o meu estilo preferido há muitos anos, guardo um apreço pela banda, cujo show no extinto Olympia, em São Paulo, em 1996, foi o primeiro que assisti de um grupo estrangeiro.
Dada a explicação, é necessário admitir que o alcance vocal de Ian Gillan não é mais o mesmo há mais de uma década (talvez duas), que o saudoso Jon Lord é insubstituível e que Steve Morse é excelente, mas é low profile (o que não é exatamente ruim).
Ainda assim, não vejo problema algum nisso tudo, e é preciso admitir também que os velhinhos ainda sabem tocar por diversão. Prova disso é o lançamento de um disco de covers em pleno 2021. Sem precisar provar nada pra ninguém, a banda se reuniu mais uma vez com o agora frequente produtor Bob Ezrin e plugou os instrumentos para dar sua versão a algumas canções escolhidas sem apelar para clichês.
Se eu disse que a voz de Gillan não tem mais tanto alcance assim, também é verdade que ele, como todo grande cantor, não abusa da sorte, e faz o que pode. Parece sacar que aqueles agudos de Child in Time ou Highway Star são coisa do passado, e parece bem com isso. Também preciso dizer que, ainda que eu tenha dito que Jon Lord é insubstituível, Don Airey entrega bem o que é seu papel, discretamente e com competência. Inclusive tem um pianinho esperto em Rockin’ Pneumonia and The Boogie Woogie Flu, de Huey “Piano” Smith (já gravada por Johnny Rivers), que até brinca com o riff de Smoke on The Water.
Já Steve Morse é gênio mesmo, e em nenhum momento nestes mais de 25 anos em que está na banda, sequer tentou soar parecido com Richie Blackmore, e aqui não é diferente: seus solos são inspiradíssimos.
Ian Paice, membro do grupo desde o início, toca de olhos fechados, e Roger Glover também tem a manha.
Sobre as covers, ainda que nenhuma delas se destaque, até por não terem escolhido canções que tenham sido grandes hits, é um disco homogêneo em seu conteúdo, e um bom jeito de passar o tempo ao ouvir do começo ao fim.
A parte interessante fica pela citação a Dazed and Confused dos contemporâneos do Led Zeppelin, dentro do medley Caught in the Act, que encerra o disco.
Turning to Crime, o disco, era necessário? Talvez não para nós, mas certamente para a banda sim. E que bom que eles ainda tenham vontade de gravar discos.
Por Brunno Lopez
BAILE DAS MÁSCARAS

Em tempos de pandemia, qualquer referência à máscaras já nos faz pensar imediatamente em uma das formas de defesa contra o vírus que parou o mundo. Este e outros contextos certamente podem ser interpretados na nova canção do Rosa de Saron.
O mais curioso é que, depois de um tempo trazendo letras menos introspectivas e mais diretas, parece que estamos diante de um flerte ao estilo de composição que o antigo vocalista Guilherme de Sá fazia. E não apenas isso: Até a forma de cantar de Bruno Faglioni faz a canção soar como a atmosfera passada da época em que seu antecessor era o frontman da banda.
Independente da possível semelhança, o fato é que o grupo seguiu em frente e parece estar encontrando sua nova identidade com uma voz refrescante, mantendo firme o nome de uma das bandas mais importantes do cenário cristão.
É isso pessoal! Espero que tenham gostado dos nossos comentários e dicas.
Abraços do nosso time!
Bruno Leo Ribeiro, Vinicius Cabral, Brunno Lopez e Márcio Viana