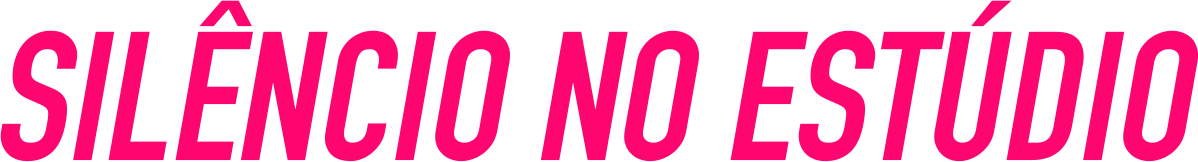A newsletter desta semana é especial apenas com clássicos que se destacam na discoteca dos nossos colaboradores. Muita coisa velha, outras nem tanto, mas sempre com algo em comum: aquele “gostinho” de clássico. Discos que não saem da nossa cabeça e dos nossos corações, independente da época em que foram lançados!
IT’S A CLASSIC
Por Vinícius Cabral
É PRA OUVIR (…)

Algumas décadas após ser atingido pelo mistério abismal de The Raincoats (álbum homônimo da banda, de 1979), eu voltei a ele mais uma vez, como faço de quando em quando. Desta vez, eu cheguei à terceira faixa, Adventures Close to Home, e parei. Pedi arrego. Vamos tentar dessa vez com o Elias: “Preciso desesperadamente que você me explique essa música”. A resposta, estúpida, foi: “Não saber tocar ajuda. Mas acho que não é o caso. Pq elas conseguem repetir a mesma coisa. No mesmo tempo”.
Pois é, Elias. Isso eu já sabia. The Raincoats não é The Shaggs. Elas sabem tocar. Mas parecem não querer fazer isso sem introduzir quebras estranhas, enfiando dois ou mais acordes onde caberia um só. Atrasando e adiantando as coisas meio que a esmo. Talvez o melhor caminho pra “entender” definitivamente este álbum seja ouvir a versão do quarteto londrino para Lola, dos The Kinks. Como a gente conhece a música como ela é, “certinha”, na versão original, fica mais fácil de perceber o contraste absurdo que as Raincoats introduziram no panteão do punk, e do rock como um todo.
A banda, formada na Inglaterra em ’76 por Gina Birch e pela portuguesa Ana da Silva, sempre foi chamada de pós-punk. Só porque começaram em ’76, e porque não podiam ser chamadas de punk-punk. Se inspiraram nas antecessoras do The Slints (roubando-lhes inclusive a baterista, Palmolive), mas não eram exatamente punk como elas. The Raincoats não tinha definição cabível. Ainda não tem.
É certo que beberam do punk (há até uns toques de reggae aqui, se pararmos pra analisar), mas não há no disco uma só levada contínua de apenas dois acordes que possa confiná-las ao gênero. O violino de Vicky Aspinall em algumas das canções, como em No Side To Fall In, The Void e Life on The Line (essa com uma progressão mais punk “clássica”) faz com que a lembrança de The Velvet Underground, com John Cale e sua viola, seja inevitável. Mas também não definidora.
Eu vou continuar ouvindo The Raincoats, e tentando definir a banda. Nunca conseguirei. E talvez seja isso o que mais amo neste álbum. O fato de que nunca, no espaço de uma vida, será possível esgotá-lo. Aliás, é como elas cantam em uma de suas letras, provavelmente sobre um dos pesadelos femininos: “o sentimento de ser seguida / o sentimento de ser vigiada / não é fácil de definir / então não me darei ao trabalho”. Aquilo que o outro não irá entender talvez precise se manter inexplicado.
40 anos depois, e com um mundo totalmente diferente à sua frente, Ana da Silva tentou definir algumas coisas (e conseguiu) nesta bela entrevista de 2018. Ela conta sobre as origens da banda, sobre o encontro inusitado com o ilustre fanboy, Kurt Cobain, sobre se posicionar ou não como feminista, e várias outras coisas.
Nos faz pensar e, sobretudo, ouvir, ouvir, ouvir. O tanto que essa all female band mudou a vida de praticamente todas as minhas influências (portanto, a minha também), não está escrito.
E não está (nem nunca estará) explicado. The Raincoats não é mesmo pra tentar explicar. É pra ouvir.
Por Bruno Leo Ribeiro
PRA ONDE VÃO OS NOSSOS CLÁSSICOS?

Nos últimos anos, muitos artistas estão optando por vender seus catálogos musicais. Existem vários motivos para essa decisão e não estou aqui para julgar ninguém. Seja por necessidade financeira, pra pagar os boletos, ou até para garantir uma renda para as próximas gerações, os artistas estão colocando suas obras à venda. Aqueles mais estabelecidos já garantem uma receita estável com streaming, mas muitos preferem receber uma bolada de uma vez e deixar para trás o que vier no futuro.
É comum que os artistas mais antigos e clássicos liderem essa tendência, mas já vemos nomes atuais, como Katy Perry entrando nessa brincadeira. Recentemente, o Pink Floyd vendeu seu catálogo para a Sony por 400 milhões de dólares, enquanto metade do catálogo de Michael Jackson também foi adquirido pela Sony por no mínimo 600 milhões. Bruce Springsteen vendeu 300 de suas músicas por 500 milhões de dólares. Outros artistas que entraram nessa “jogada” incluem Tina Turner, Kiss, Bob Dylan e Phil Collins.
Até o momento, quem mais faturou com a venda do catálogo foi o Queen, com uma venda estimada em 1,27 bilhões de dólares. Mas o que isso significa para nós, ouvintes?
Está claro para mim que grandes grupos e investidores – como Hipgnosis Songs Fund, Primary Wave Music Fund, Round Hill Music, Concord Music Publishing, Universal Music Group, Sony Music, BMG Rights e Warner Music – estão acumulando esses catálogos de maneira estratégica. Controlar um catálogo, dá a esses conglomerados o poder de usarem essas músicas como bem entenderem. Por exemplo, se Universal ou Warner quiserem usar essas músicas em filmes produzidos pelas suas próprias holdings companies, podem usar sem precisar pagar uma fortuna em direitos autorais. Colocar uma música icônica, como “Bohemian Rhapsody,” em um filme pode custar cerca de 500 mil dólares. Então se colocarem essas músicas em centenas de filmes e propagandas, o investimento inicial já se paga.
Mas o que mais me preocupa nessa história é o uso desses catálogos para treinar Inteligências Artificiais. Com tanta música disponível para treinar AIs, não vai demorar para que boa parte do que ouvimos seja “música de mentira,” gerada por algoritmos baseados nesses clássicos. Hoje ainda conseguimos identificar algumas dessas músicas criadas por IA, com vocais artificiais e algumas falhas e artifícios, mas em poucos anos será impossível distinguir o que é real do que é sintético.
Então, se vender o catálogo é um bom negócio para os artistas, talvez para nós, ouvintes, a história seja diferente. No fim das contas, uma coisa é certa: as gravadoras NUNCA perdem.
Por Brunno Lopez
QUANDO O CLÁSSICO MATA O POSSÍVEL NOVO CLÁSSICO?

Todo artista parte de algum lugar, ouvindo algo que foi inspirador para gerações inteiras e esse direcionamento se torna um guia que molda sua arte. Em alguns casos é até difícil se desprender da fonte, tornando bem desafiador aquela busca por originalidade.
Poderíamos citar aqui o começo do Aerosmith que bebia altas doses de Rolling Stones ou, na versão contemporânea, o eterno embate de homenagem ou réplica entre Led Zeppelin e Greta Van Fleet.
O fato é que, independente do nível de apropriação artística, alguns clássicos acabam adquirindo um poder de longevidade tão profundo que acabam por ofuscar novos movimentos dentro de seus estilos. Ou vocês acham tudo bem ainda termos eventos de rock com Scorpions, Iron Maiden e Kiss como headliners?
Claro, os organizadores querem pagar as contas e soa confortável trazer os dinossauros que seguem em atividade com suas obras premiadas no começo de suas carreiras. E no caso da banda ter eventualmente acabado, temos revivals pontuais que agradam os nostálgicos e tiram dos palcos principais os grupos que estão tentando ousar algum frescor.
Tirando o System Of a Down e até o próprio Linkin Park lá pelos anos 2000, a demanda clássica ainda se agarra no que foi criado décadas atrás e se arrasta pelos dias atuais sem qualquer sinal de que vão parar.
Precisamos mesmo de ‘Born To Be Wild’ e ‘Have You Ever Seem The Rain’ em 2024? Ainda fazemos checkin no ‘Hotel Califórnia’? Como pedir ajuda se o ‘Help’ que aparece é dos Beatles?
Talvez o Ghost pense diferente. Mas ainda é muito pouco para que novos clássicos sejam incorporados aos festivais.
Por Márcio Viana
DOCE LIBERDADE

Entre as grandes bandas que praticam o som pesado desde o final dos anos 1960/início dos 1970, o Uriah Heep sempre foi um pouco abaixo do radar, mas ao longo de seus 55 anos de existência, teve alguma estabilidade, não importando as diversas mudanças de formação. Ainda em atividade, o grupo hoje só mantém o guitarrista Mick Box como membro original.
Minha relação com a banda se dá por apenas um disco, admito, mas acho que é o suficiente para considerá-lo um clássico e tratá-lo como influência.
Falo de Sweet Freedom, lançado em setembro de 1973. Por essa época, além de Mick Box, a banda contava com o cantor David Byron, o baterista Lee Kerslake, o tecladista Ken Hensley e o baixista Gary Thain, todos já falecidos.
O álbum é do puro hard rock setentista e não faz feio em comparação aos demais discos do estilo lançados naquele ano. Entre os destaques, a cadenciada Seven Stars e a acústica Circus. Mas há espaço para mais beleza na reflexiva If I had the time. Destaque também para a linha de baixo de Gary Thain na faixa-título.
Dito isso, existe uma curiosidade mórbida na disposição dos integrantes na capa de Sweet Freedom: da esquerda para a direita, em ordem cronológica e de idade, os integrantes foram deixando este plano, restando o último à direita, Mick Box, que segue se apresentando com a banda. A ordem dos integrantes e seu falecimento: Gary Thain: 08/12/1975; David Byron: 28/02/1985; Lee Kerslake: 18/09/2020; Ken Hensley: 04/11/2020; Mick Box: tá aí vivão e se apresentando.
É isso pessoal! Espero que tenham gostado dos nossos comentários e dicas.
Abraços do nosso time!
Bruno Leo Ribeiro, Vinicius Cabral, Brunno Lopez e Márcio Viana