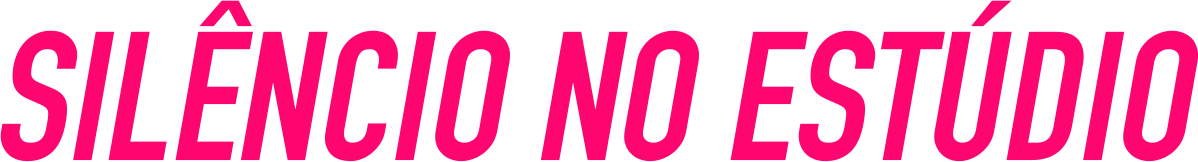A newsletter desta semana é especial apenas com clássicos que se destacam na discoteca dos nossos colaboradores. Muita coisa velha, outras nem tanto, mas sempre com algo em comum: aquele “gostinho” de clássico. Discos que não saem da nossa cabeça e dos nossos corações, independente da época em que foram lançados!
IT’S A CLASSIC
Por Vinícius Cabral
GETCHOO, AH, HA!!

Pego carona no excelente Raio X do Bruno Leo sobre o Blue Album para falar do álbum seguinte da banda. Um dos meus discos favoritos dos anos 90 e, certamente, o melhor e último disco (decente) dos caras. O que a banda virou depois, ouvindo o Leo contar, deve ser no fundo o que Rivers sempre quis; uma mistura glorificada do metal farofa com rock alternativo. Não é pra mim.
Este Pinkerton não deixa de ser controverso. Recentemente foi muito carimbado como um “hino incel”, apesar deu achar a caracterização injusta. É certo que Rivers Cuomo é um nerd inseguro e controlador (red flag que fala?), mas o disco me parece muito mais um reflexo confessional e honesto de suas inseguranças do que material de misoginia.
É óbvio que Tired of Sex chuta a porta. Mas o rapaz esteve apaixonado; por uma menina do outro lado do oceano (Across the Sea é de matar) e até por uma mina que, no fim, era lésbica (como não se identificar com o clássico Pink Triangle??). The Good Life e El Scorcho (dois singles e as mais “suaves” do disco) talvez selem a questão; eles estavam se divertindo com o sucesso, mas as canções da banda sempre tiveram (como Leo bem defende) um acento confessional, memorialista e bastante amargo diante da vida- resultado, talvez, de tantos anos de bullying na fase escolar. Já estivemos ali.
O que mais me choca positivamente em Pinkerton é justamente o fato de que uma certa good vibes do álbum azul definitivamente cai por terra aqui. Com harmonias e melodias muito mais elaboradas, a banda nos envolve em um passeio soturno, com viradas, mudanças de tom e de clima. Chega a ser desafiador, se pensarmos no que veio da banda até ali (e depois disso). Basta pensar no clima onírico que abre Pink Triangle, e na melancolia absurda que se segue à intro. Há algo muito forte aqui, meio depressivo, até. Em música isso pode ser uma bomba. Foi.
Pinkerton foi uma bomba mal compreendida, obviamente. Vendeu mal, os fãs não entenderam (quem não era fã já não entendia mesmo a banda desde antes), e os caras entraram em um hiato depois. Teve também, antes do Green Album, a saída do Matt Sharp, que ninguém sabe o quanto realmente impactou a virada no som da banda. O Weezer, enfim, acabou ali para mim.
Pinkerton é o último capítulo propriamente original de uma banda que conseguiu, na metade dos 90, produzir um som que ninguém tinha exatamente ouvido até então, com uma massa de guitarras distorcidas sustentando melodias cativantes, tudo amarrado por texturas únicas. Pinkerton levou isso ao limite.
Uma curiosidade é que depois de dois álbuns espetaculares, diante do hiato que se seguiu ao Pinkerton, muita coisa relacionada ao Weezer surfou na onda da pirataria do final dos anos 90, com a ansiedade por novos lançamentos da banda. Lembro que chegou até mim, de forma obscura num CD-R que eu tenho até hoje, uma compilação de B-Sides, que só foram aparecer muito tempo depois, em 2004, quando do lançamento da versão Deluxe do Blue Album. Dentre as canções do CD, que circulavam abertamente pelos torrents da vida, estavam Susanne, Jamie (algumas das mais bonitas da fase Blue Album), Mykel and Carli (uma homenagem às fãs #1 da banda, que faleceram tragicamente em um acidente de carro) e até mesmo uma versão bem honesta de Velouria dos Pixies. Hoje é fácil achar essas canções espalhadas por aí, nos Deluxes da vida. Na época, só através de download mesmo.
Um outro episódio marcado pelas “viúvas” de Pinkerton foi um dos primeiros virais nos quais eu caí. Começou a circular pelos sites um arquivo misterioso, intitulado weezer-paintbynumbers.mp3. Ao baixá-lo, você ouvia o que deveria ser uma música nova do Weezer, mas não era (Getchoo, Ah, ha!). Tratava-se de uma música da banda Self (abaixo). Olhando em retrospecto, esta deve ter sido a primeira “fake news” que eu caí, e também uma jogada de marketing fenomenal de alguém. Funcionou tanto que eu virei fã de Self, e tenho este CD, o Breakfast with Girls, de 1999, até hoje. O mais curioso disso tudo é que, ouvindo a canção, em retrospecto, ela realmente soa como uma sequência arriscada (mas possível) para a bomba que foi Pinkerton.
Rivers decidiu ir por outro caminho, e eu também.
Por Bruno Leo Ribeiro
PONTO DE ENTRADA

Uma coisa que me fascina é descobrir sobre o ponto de entrada das pessoas e suas bandas favoritas. Eu poderia escrever uma autobiografia só explicando como foi o meu ponto de entrada em praticamente todas as bandas e artistas de que gosto. Com Iron Maiden, foi vendo a capa do “Somewhere In Time” em 1986, por causa do meu irmão. O Metallica foi ouvindo “Fade To Black”, o Rush foi uma fitinha que um amigo me gravou na escola, e o Prince foi o disco do filme do Batman de 1989, que era meu filme favorito na época.
Muitos outros artistas eu sabia da existência. Já tinha escutado, visto clipes e até comprado CDs. São as viradas de chave. Também posso falar sobre isso por horas. De uma conversa sobre o “Pet Sounds” dos Beach Boys até a indicação do disco correto do King Gizzard & the Lizard Wizard. Mas talvez a maior virada de chave/ponto de entrada para mim provavelmente foi o “The Rising” do Bruce Springsteen.
Sexta-feira passada (dia 12), assisti ao meu terceiro show do The Boss aqui em Helsinki, na Finlândia. Nessas loucuras da vida de ficar mudando de continente para lá e para cá, em 2023 consegui ver o Bruce pela primeira vez numa viagem de fim de semana para Portland. Um ano depois, junto com meu filho, fomos ver o Bruce em San Francisco.
Entre várias músicas do repertório maravilhoso do seu show com a única, maravilhosa, incrível e perfeita E Street Band, a música de abertura do show aqui em Helsinki me levou diretamente para 2002, no meu grande ponto de virada para virar fã do Bruce: “Lonesome Day”.
Em 2002, eu já me ligava um pouco mais nos nomes dos produtores dos discos que eu mais gostava e um deles aparecia em vários deles: Brendan O’Brien, que trabalhou com o Soundgarden, Pearl Jam e Rage Against the Machine. Quando descobri que ele produziu o disco recém-lançado do Bruce Springsteen, tive que ir atrás desse play e, não me orgulho, mas foi baixado num canal de downloads no mIRC (os jovens devem estar se perguntando que porra é essa!?).
Do Bruce, eu conhecia os hits que passavam na MTV: “Born in the USA”, “Dancing in the Dark”, “Streets of Philadelphia” e outros grandes hinos dele, mas eu nunca tinha parado para ouvir um disco completo dele. Me faltou um amigo para falar: “Você precisa ouvir Bruce Springsteen!”. Como assim eu não conhecia muito mais do que esses greatest hits? Eu gostava. A figura dele sempre me passou uma imagem sensacional. Achava bonito demais aquela banda cheia de gente incrível tocando ao mesmo tempo e tudo se encaixando perfeitamente. Mas eu precisava do meu ponto de entrada.
Quando o disco baixou por completo, coloquei meu fone de ouvido e dei play. A primeira música do disco era “Lonesome Day”. A música terminou e voltei para ouvir de novo. E foi assim uma, duas, três, quatro vezes. Fiquei ouvindo esse grande hino em loop. Alguma coisa ali me pegou demais. Enquanto seguia ouvindo o resto do disco, já estava procurando a discografia completa do Bruce Springsteen. Fui me apaixonando, um a um: “Nebraska”, “Born to Run”, “The Ghost of Tom Joad” e “Born in the USA”.
Meu ponto de entrada foi o “The Rising” e, se você ainda não teve seu momento de virada com o Bruce Springsteen, acho que ele pode ser um ótimo começo. Eu sou o seu amigo falando: “Você precisa ouvir esse disco aqui!”.
Por Márcio Viana
ENTÃO ME AJUDE A SEGURAR ESSAS 12 BARRAS

Alguns discos não são clássicos instantâneos, e frequentemente pode acontecer aquele velho clichê de só ser reconhecido quando o artista já não está entre nós.
A carreira de Scott Weiland foi marcada pela controvérsia de alguém com inegável brilho, infelizmente ofuscado por sua dependência química, o que causou instabilidade nas relações entre as bandas das quais fez parte. Em 1998, Weiland estava afastado do Stone Temple Pilots (já havia estado longe da banda em 1995, quando formou o Magnificent Bastards), e dessa vez a banda seguiu (mais ou menos) em frente, com os integrantes formando o Talk Show, com o vocalista Dave Coutts. Ainda assim, a banda sempre pareceu tratar esse projeto como uma saída provisória enquanto esperava Weiland se recuperar. Essa entrevista com Dave Coutts para a Rolling Stone corrobora com essa informação.
De seu lado, Scott Weiland não chegou a parar: lançou o álbum 12 Bar Blues, cujo single Barbarella chegou a fazer algum barulho, mas o disco em si não foi um sucesso: no seu lançamento, vendeu cerca de 90 mil cópias, um resultado modesto para quem estava acostumado com o estrelato.
O disco, ainda que tenha a essência de Weiland e de suas composições, passa longe do STP (ao contrário do Talk Show, que era basicamente a mesma banda com outro cantor de mesmo timbre). Não que algumas das canções de 12 Bar Blues não pudessem figurar na discografia da banda, desde que rearranjadas, mas em seu formato, não é um disco (só) de rock. E tudo bem.
Co-produzido por Weiland com Blair Lamb, o disco ainda trouxe a participação de bambas com Daniel Lanois, Martin LeNoble e Sheryl Crow (tocando acordeon) e em muitos momentos coloca loops no lugar de bateria orgânica, o que traz ares de modernidade, ou pelo menos da concepção que se fazia dela em 1998.
O Stone Temple Pilots acabou por se reunir no ano seguinte (o que não seria definitivo, a história mostraria), e isso talvez não tenha dado chance para 12 Bar Blues conseguir um bom lugar na carreira do cantor, nem que pudéssemos saber no que daria o Talk Show (provavelmente o mesmo que deu, já que nem a banda estava muito interessada em sua continuidade), mas no fim das contas temos bons discos para apreciar.
P.S.: o design de capa de 12 Bar Blues é uma homenagem ao álbum Blue Train, de John Coltrane.
Por Brunno Lopez
12 BARRAS ALI, 20 AQUI

É raro, mas acontece.
Quando é que eu iria aparecer aqui pra indicar qualquer disco que esteja em listas do tipo: “200 ÁLBUNS DEFINITIVOS PRA OUVIR ANTES DE MORRER”?
Bom, Yourself or someone like you é um desses acasos de critério em que as opiniões colidem e apertam as mãos com um grande sorriso no rosto.
Lançado na década mágica de 1990, o debute do Matchbox 20 tem aquela aura irresistível post-grunge com Rob Thomas brilhando sem precisar competir com os solos de Santana a cada verso – claro que eu adoro Smooth, mas o ponto aqui é valorizar a originalidade desse grupo de Orlando.
‘Push’ e ‘3AM’ são as trilhas sonoras dessa geração e, junto com as outras faixas, solidificaram o caminho para a longevidade da banda no coração das pessoas que, por acaso, caem nos créditos finais de uma comédia romântica.
É isso pessoal! Espero que tenham gostado dos nossos comentários e dicas.
Abraços do nosso time!
Bruno Leo Ribeiro, Vinicius Cabral, Brunno Lopez e Márcio Viana