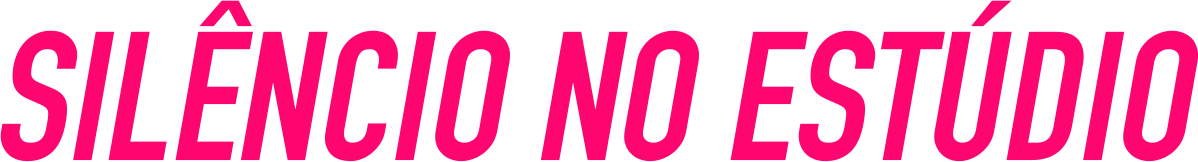27 de Janeiro de 2020
Bom dia, boa tarde e boa noite queridos leitores / ouvintes do Silêncio no Estúdio. Na newsletter dessa semana é especial apenas com clássicos que se destacam na discoteca dos nossos colaboradores. Muita coisa velha, outras nem tanto, mas sempre com algo em comum: aquele “gostinho” de clássico. Discos que não saem da nossa cabeça e dos nossos corações, independente da época em que foram lançados!
IT’S A CLASSIC
Bruno Leo Ribeiro
”POLÍCIA! MÃO NA CABEÇA!”
Esses dias, estávamos conversando sobre o momento do vinil, sobre a importância de se ter um disco em casa e etc. E lembrei de um disco clássico que paguei míseros 5€ numa loja de discos usados aqui em Helsinki. O The Police com o Reggatta de Blanc é um desses disco que você precisa ter.
É um disco tão clássico e tão bom, que parece até um “The Police Greatest Hits”, mas não é. O The Police é uma banda que quando eu era pequeno eu adorava, mas nunca tinha parado pra ouvir. Meu irmão é 11 anos mais velhos que eu, então herdei o gosto dele em algumas coisas. Um deles foi o The Police.
Apesar d’eu ser “do metal”, sempre tive na manga essas bandas de rock que me agradavam. The Police, The Cure, Simple Minds e etc. Essas são dessas bandas que todo mundo meio que gosta, mas sem ser fã. Claro que se tiver outra turnê da reunião dos 3 gênios Stewart Copeland, Sting e Andy Summers, será uma turnê de sucesso, mas eu tenho uma teoria que se o The Police nunca tivesse acabado ali em 1986, eles seriam maiores e tão grandes quanto o U2.
Mas falando do Reggatta de Blanc, o disco conta com os clássicos hits, “Message in a Bottle”, “Bring on the Night” e “Walking on the Moon”, pra nomear alguns. É um disco de punk, de the reggae, de ska e de pop ao mesmo tempo. O baterista Copeland é um dos grandes monstros da bateria, influenciando gente como Neil Peart e João Barone. É um disco clássico no termo mais simples. Hits, inovação, criatividade e o mais importante, envelheceu muito bem.
Vinícius Cabral
O CLÁSSICO MAIS SUBESTIMADO DA HISTÓRIA
Ah…nem me lembro de quantas vezes já falei nesse podcast desta obra prima. Como já desenvolvi o mesmo argumento de várias formas diferentes, desta vez fico com as palavras de J.H Tompkins para a revista Pitchfork: “Though widely disregarded at the time of its release, The Kinks’ 1968 apex, The Village Green Preservation Society, has had a profound impact on the present state of indie rock” (Em tradução livre: Embora largamente desconsiderado na época de seu lançamento, o ápice dos The Kinks de 1968, The Village Green Perservation Society, teve um profundo impacto no estado presente do Indie Rock). Eu diria mais: largamente desconsiderado na época de seu lançamento, o disco foi ganhando um culto e o status de obra de arte, mas segue sendo altamente desconsiderado pelo público de maneira geral. O que me parece na verdade, é que este álbum não entra naquele clichê da “obra à frente do seu tempo”, simplesmente porque, para o bem ou para o mal, parece se tratar de uma obra sem tempo. Em qualquer período em que se proponha resgatar esse disco, ele fará sentido. Só pela capa já podemos enganar alguns fãs de Britpop desavisados, desafiando-os (risquemos ali o nome da banda e, provavelmente, ao ver a capa poderíamos dizer que se trata de um disco perdido de alguma das bandas do período, como Supergrass, Ocean Colour Scene ou Super Furry Animals…é facinho facinho de enganar qualquer um nessa brincadeira). Quando eu digo “obra sem tempo”, é justamente por esse tipo de fenômeno: poderia ser um álbum de Britpop (não só pela capa, basta dar o primeiro play na primeira faixa que isso fica evidente), mas também poderia ser uma banda britânica dos anos 80, dos 90 ou até mesmo dos 2010s. Não um disco à frente do tempo, nem um disco do seu próprio tempo: um disco múltiplo, íntimo e preciso, que atravessa as décadas e segue fazendo sentido. Mas porque será?
Em 1968, é seguro dizer que o mainstream estava massivamente ocupado pelo rock. E não qualquer rock, mas uma música de statements, discursos, posturas e de impressionante domínio técnico. Enquanto Led Zepellin, Jimmi Hendrix (com seu Electric Ladyland) e demais artistas seguiam neste caminho, outros já eram desejados, por exemplo, pelos então unânimes Beatles, indo buscar no conforto intimista do White Album um caminho que mantivesse a expressão artística de seus compositores viva e com algum sentido. Acontece que para o Ray Davies, principal compositor dos The Kinks, essa expressão intimista e altamente pessoal era tudo o que parecia importar, pelo menos desde 1965 na trajetória de álbuns errantes (com singles sensacionais como dedicated follower of fashion, waterloo sunset ou autumn almanac), que culmina neste The Village Green Preservation Society. Talvez por isso, reza a lenda, John Lennon teria, bêbado em um bar, pedido para o DJ tocar Wonderboy (outtake das sessões de gravação deste disco) repetidas vezes, em loop. Ou talvez porque John sabia, desde então, o que muitos hoje reconhecem: Ray Davies era um dos poucos compositores da época capazes de tirar uma onda da idealização de uma Grã Bretanha grandiosa, feliz e verdejante (como o próprio título do álbum sugere) e se expor emocionalmente ao mesmo tempo, revelando suas angústias e inadequações perante o mundo que, ao contrário do que afirmam as bravatas ufanistas, não é nada aconchegante. Enquanto zomba do “estado das coisas”, Davies propõe a si mesmo uma fuga de toda a incerteza e efervescência de uma década de transformações, exaltando a simplicidade de outros tempos como uma fuga que por sua vez é impossível. Paradoxalmente, o compositor assume seu lugar no mundo, enquanto no fundo talvez lute para não fazer parte dele. Desta forma, enquanto todas as bandas estavam trancadas em estúdio compondo épicos de “paz e amor” ou declarações artísticas e políticas conscientes, Davies poderia muito bem escrever um disco inteiro sobre um lugar idílico imaginário, narrando no meio disto histórias sobre gatos mágicos, bruxas malignas ou mesmo sobre o passar dos anos e o envelhecimento (conceito certamente estranho é indesejável para qualquer jovem do final dos anos 60). Ou seja, não se tratava apenas de buscar uma expressão intimista. Era o caso de chafurdar no universo grandioso do rock da época, com seus álbuns conceituais e obras grandiosas, para oferecer uma contrapartida mais…humana. “This world is big and wild and half insane/Take me where the animals are playing” (Tradução livre: este mundo é grande, selvagem e metade insano/Me leve para onde os animais brincam), canta Davies em Animal Farm. No fim das contas, por trás do sarcasmo e da crítica, trata-se de um compositor no auge de suas inquietações, rasgando a garganta para denunciar um mundo torto e desejando um lugar mais acolhedor e seguro. Não há nada mais simples, e isso eu aprendi com o tempo, do que ser sincero. Talvez seja essa sinceridade, escancarada, que tanto me encante no The Village Green Preservation Society. Embora superficialmente se desenhe como um disco conceitual, não se furta a abraçar cenas do cotidiano (picture book), a nostalgia dos trens a vapor (the last steam powered train) ou a história fictícia de Walter, um velho conhecido que já não é mais o mesmo. Também não se furta a uma análise acidentalmente profunda, ao elaborar o uso da imagem na (então incipiente) sociedade do espetáculo, como uma ferramenta de reconhecimento: “People take pictures of each other/just to prove that they really existed” (Em tradução: Pessoas tiram fotos umas das outras/só para provar que realmente existem), Davies analisa em People Take Pictures Of Each Other. Em uma época em que não ter uma rede social com fotos de si e da família significa, basicamente, não existir, acho estrondoso e surreal ouvir estes versos, saídos de uma obra de 1968. Como eu já disse, uma “obra sem tempo”, que se encaixa nos dias de hoje, exatamente, porque se encaixaria em qualquer época. E que se encaixa por ser simples, íntima, brilhante e sincera. Por tudo o que o circunda e por tudo o que esse disco me faz sentir, digo sem pestanejar que se trata de um dos meus álbuns preferidos de todos os tempos. E haja recomendação!
Márcio Viana
O ÁLBUM “GRUNGE” DO KISS
Pode ser que eu seja uma das cinco pessoas que apreciam este álbum. Carnival of Souls: The Final Sessions foi lançado em momento, digamos, delicado para a banda. Depois da bem sucedida turnê do álbum Revenge, primeiro após a morte do baterista Eric Carr (substituído por outro Eric, o Singer), o Kiss já aventava a possibilidade de uma reunião da formação clássica com Ace Frehley e Peter Criss se juntando a Paul Stanley e Gene Simmons para uma turnê. Isso acabou ocorrendo após o MTV Unplugged da banda, o que culminou no álbum Psycho Circus e tudo que se passou depois.
Pois bem, o fato é que antes da ideia da tour milionária a banda já vinha trabalhando neste Carnival of Souls, que acabou engavetado, e assim permaneceria, não tivesse sido vazado e compartilhado na internet.
Sem saída, a banda optou por lançar o álbum, com o subtítulo The Final Sessions, meio como um “gravamos até aqui”.
O que mais chama atenção no disco é a forte influência da sonoridade grunge, lembrando em especial dos timbres e harmonias do Alice in Chains.
A música Jungle obteve um razoável sucesso. I walk alone traz uma peculiaridade: pela primeira vez Bruce Kullick assume os vocais, em grande momento do disco.
O baterista Eric Singer à época ficou revoltado com a ausência de divulgação do álbum e declarou que nunca mais voltaria a tocar com a banda. Curioso pensar que hoje ele íntegra o Kiss junto aos dois líderes e o guitarrista Tommy Thayer, em substituição a Peter Criss e Ace Frehley, que convenhamos, sabíamos que não permaneceriam por tanto tempo. Aliás sobre Tommy Thayer, uma curiosidade é que ele colaborou em Carnival of Souls, compondo em parceria com Simmons e Kullick a música Childhood’s End.
Não sei dizer como este álbum se encaixa na discografia do Kiss, mas gosto de pensar nele como um projeto paralelo, capitaneado pelas guitarras de Bruce Kullick, que realmente brilhou neste disco. A produção ficou a cargo de Toby Wright, que tem em seu currículo discos de Alice in Chains e Slayer. E isso explica muita coisa.
Brunno Lopez
MORE THAN WORDS, AND VAN HALEN
Muitos podem dizer que o Van Halen sem David Lee Roth e Sammy Hagar não soa como Van Halen. É bem que possível que as pessoas com este discurso tenham razão, mas a verdade é que não soar como Van Halen não significa ser algo ruim.
Ainda mais quando quem é responsável por essa mudança de sonoridade é o próprio Eddie Van Halen, juntamente com um elemento novo nos vocais trazendo, pela primeira vez, letras para que o guitarrista começasse seu processo criativo.
Foi aí que tivemos o Van Halen III, lá em 1998, com o ex- vocalista do Extreme Gary Cherone.
Apesar de realmente existirem canções que destoam da história do grupo, algumas músicas são boas e eu ficaria muito decepcionado se tivesse passado por essa vida sem ouvir pelo menos a track “Without You”. Uma bela gravação da banda, que poderia tranquilamente figurar entre hits clássicos do Van Halen.
Infelizmente, sabemos que Cherone saiu 3 anos após seu ingresso, gravando apenas este disco.
Ele poderia trazer mais personalidade num segundo álbum?
Possivelmente.
Mas por enquanto, temos apenas esse registro com ele e vale a pena dar uma chance para essa fase breve do talentosíssimo cantor.
É isso pessoal! Espero que tenham gostado dos nossos comentários e dicas.
Abraços do nosso time!
Bruno Leo Ribeiro, Vinicius Cabral, Brunno Lopez e Márcio Viana