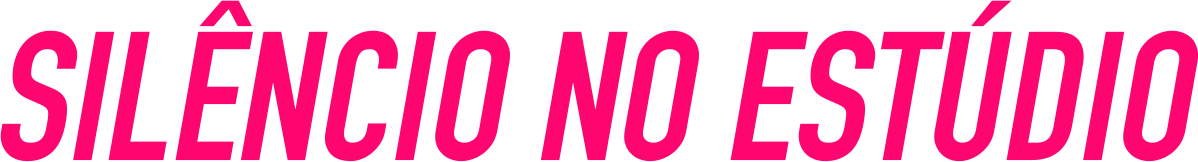17 de Agosto de 2020
Bom dia, boa tarde e boa noite queridos leitores / ouvintes do Silêncio no Estúdio. A newsletter desta semana é especial apenas com clássicos que se destacam na discoteca dos nossos colaboradores. Muita coisa velha, outras nem tanto, mas sempre com algo em comum: aquele “gostinho” de clássico. Discos que não saem da nossa cabeça e dos nossos corações, independente da época em que foram lançados!
IT’S A CLASSIC
Bruno Leo Ribeiro
RUMORES DE UM DISCO PERFEITO
Alguns discos na história da música estão sempre nas listas de melhores de todos os tempos. E é impressionante pensar que no seu décimo primeiro disco, o Fleetwood Mac fez a sua obra prima. Muitas bandas fazem seus melhores trabalhos no comecinho ou vão evoluindo com o tempo e melhorando cada vez mais.
Casos como os Beatles e até os Beach Boys, o Fleetwood Mac entra nesse timáço de bandas e artistas que vão melhorando com o tempo. Seja na evolução da gravação, na mudança da sua arte e também no contexto da época.
O Fleetwood Mac começou na Inglaterra em 1967 e 10 anos depois do início da banda, fez o seu 11° disco, o que por si só já é impressionante. Conhecer toda a discografia deles é tarefa difícil, mas quando chega no disco Rumours a coisa vai pra um outro nível.
Inspirado no episódio da semana passada sobre a Geografia Musical de Los Angeles, esse disco teve início de produção em LA e depois acabou sendo gravado perto de San Francisco, mas com certeza aquela vibe da cidade dos anjos trouxe pra esse álbum algo a mais.
Os membros do Fleetwood Mac estavam passando por dificuldades emocionais durante esse período. Mick Fleetwood estava se divorciando. Christine McVie estava se separando de seu marido. A Stevie Nicks estavam terminando seu relacionamento de oito anos. Imagina o clima pesado. Mas na sofrência sempre vem coisa boa.
Pra contar um dos momentos de genialidade sobre esse disco, na música perfeita “Dreams”, a Stevie Nicks basicamente fez a música em 10 minutos. Ela achou uma batida em loop de bateria e fez a música. Quando mostrou pra banda, todo mundo empolgou e no dia seguinte a música começou a ser gravada.
Esse disco merece um Raio X ou um Especial do Fleetwood Mac pra gente entrar em mais detalhes, mas fica aqui minha recomendação desse clássico absoluto que se você puder, tem que ter em vinil. Tenham uma semana maravilhosa.
Vinícius Cabral
VÁMONOS DE AQUÍ
É interessante observar a trajetória do Rock nos países da América Latina. Nem sempre ele chega “redondo”, sem grandes sobressaltos, preconceitos ou barreiras comerciais – e até técnicas. É normal, portanto, que se atribua a alguns desbravadores a missão de “adaptar” o gênero, naturalizando-o em nossas línguas e o aclimatando à nossas especificidades melódicas e líricas. Se aqui no Brasil essa missão foi brilhantemente cumprida por Erasmo Carlos (sim, o cara que traduziu Splish Splash, e que construiu uma carreira calcada no Rock mais “tradicional”), talvez nós não tenhamos uma “obra definidora”. Aquele disco para o qual todo mundo aponta quando se questiona: qual a pedra fundamental do nosso Rock? Em tempo: Eu não acho que nem o Os Mutantes de 1968 faz essas vezes, embora saiba que minha posição nesse assunto é polêmica e que vale um bom debate.
Pois para os nossos hermanos argentinos a história é bem diferente. Houve na década de 70 um abalo sísmico de proporções inimagináveis, chamado Luis Alberto Spinetta (o lendário El Flaco, apelido que lhe foi atribuído por ter sido profundamente magro, mirrado). À frente de vários projetos a partir do final dos anos 60, foi com a banda Pescado Rabioso que o gênio nos trouxe uma obra prima imortal, chamada, auspiciosamente, Artaud. Qualquer argentino que tenha uma cabeça – não acidental ou propositadamente investida repetidas vezes contra o chão – irá te dizer: Artaud és el más grande. O maior de todos os tempos. A obra definidora.
O álbum, que traz em seu título uma feliz referência ao transgressor dramaturgo e poeta francês, não tem nenhum minuto que se possa pular. É um disco que, a um só tempo, escreve a identidade do Rock argentino, aclimatando o estilo a um espanhol deliciosamente arrastado e melodioso (perfeitamente afeito ao gênero), enquanto desafia os limites daquilo que podemos chamar de Rock “clássico”. Em seus álbuns anteriores Spinetta pôde brincar a torto e a direito com a estrutura da banda tradicional de Rock, com guitarras, baixos e baterias. Em Artaud sua expressão é mais interna, intimista e pessoal (não à toa traduzida no instrumental majoritariamente acústico), embora crie uma universalidade instantânea pela mágica com que constrói os 9 clássicos que integram o álbum.
Há apenas 4 músicas em que a banda entra em cena: no Blues clássico de Cementerio Club e Superchería; na maravilhosa Bajan (certamente a música que serve de molde para 90% do Rock argentino até hoje) e na brilhante Las Habladurías del Mundo.
Nas outras canções Spinetta controla todo o show, com seus violões comandando as harmonias e compondo um conjunto de petardos certamente nunca antes ouvidos em terras latinas. A habilidade, imprevisibilidade e intensidade de suas linhas melódicas – desde Todas Las Hojas Son del Viento, que abre o álbum, aos acordes finais da “George Harrisiana” Las Habladurías del Mundo– constituem um conjunto que, certamente, apesar de até encontrarmos alguns escritos aqui e ali, nunca foi sequer acessado por nós aqui no Brasil.
Cantata de Puentes Amarillos, o centerpiece, traz à tona a grandiosidade do disco em mais de 9 minutos de uma só canção. Dividida em 4 movimentos, ou atos, para se ficar dentro da lógica “artaudiana”, a música explora de uma só vez todos os elementos do álbum (e porque não dizer, do arsenal criativo do gênio): os climas intimistas, versos em falsete, as “subidas” intensas para refrões catárticos, e por aí vai. É Spinetta em sua mais excelente expressão. É um tipo de Rock que nunca se ouviu nas línguas “matrizes” do gênero. É o Rock portenho, atualizando e entortando o estilo musical com maestria e criatividade.
Ainda resta, na parte final do disco, uma porrada bem guardada. A Starosta, El Idiota, conduzida no piano, tem uma “quebra” entre as estrofes, em um delírio experimental com direito a falas ao contrário e um sampler inusitado de She Loves You, dos Beatles. É como se El Flaco fizesse um aceno ao Rock “original”, anglo saxão para terminar a canção no catártico (e simbólico) verso: “Vámonos de Aquí” – emendado às guitarras melódicas e nervosas da faixa final, em uma transição inesquecível.
Vámonos de Aquí; agora o Rock é nosso, e sabemos fazê-lo de um jeito inevitavelmente diferente e brilhante.
Não se deixem levar por bairrismos e pelos preconceitos que até hoje nos afastam de nossos irmãos argentinos: Artaud talvez seja o melhor e mais importante disco de Rock latino americano de todos os tempos.
Márcio Viana
A ESTRADA NÃO É MAIS A MESMA
Dez entre dez resenhas que já devo ter lido sobre o Big Star classificam a banda como injustiçada. Daniel Benevides, no texto que escreveu para a seção Discoteca Básica da revista Bizz sobre #1 Record, disco de estreia do grupo, iniciou com a frase “Há momentos em que Deus escreve torto por linhas certas”. Certeiro, o texto falava sobre a rapidez com que o Big Star surgiu e desapareceu. Big Star, aliás, era o nome de um supermercado próximo ao estúdio em que a banda ensaiava.
A banda se formou em 1971, com Chris Bell (guitarra, vocais), Andy Hummel (baixo) e Jody Stephens (bateria). Pouco tempo depois, juntou-se a eles Alex Chilton, guitarrista e vocalista, que era do Box Tops e chegou, aos 16 anos, a tentar uma carreira solo numa improvável incursão pelo blue eyed soul.
Curiosamente, a banda assinou com a gravadora Stax, cujo cast era mais voltado a artistas de soul e rhythm and blues, o que não poderia ter sido mais desastroso: mal divulgado, o disco vendeu pouco mais de 10 mil cópias em sua estreia.
Mas fazendo eco lá na frase sobre as linhas retas que escreveram torto, a banda se tornou uma grande influência para gerações posteriores, e podemos dizer que não haveria R.E.M., Replacements e outros se não fosse este álbum e mesmo seu sucessor, Radio City, produzido pela banda já desfalcada, mas ainda grande (calma, vou chegar lá).
Acontece que as baixas vendas deprimiram Chris Bell, que também vivia às turras com Alex Chilton. Bell então deixou a banda para seguir em carreira solo. O trio gravou o disco seguinte em 1974, após uma rápida e temporária dissolução da banda, com Chilton assumindo todos os vocais.
Ainda em 1974, a banda chegou a gravar as faixas para um disco duplo, Third/Sister Lovers, que foi lançado somente em 1978. Por essa época, Andy Hummel quis terminar seu curso na faculdade e acabou por não participar das gravações, sendo substituído por Jon Lightman.
Ainda em 1978, Chris Bell faleceu em um acidente de carro, aos 27 anos.
Em 1993, Chilton e Stephens se juntaram a Jon Auer e Ken Stringfellow, da banda The Posies, e gravaram mais um álbum em 2005, In Space.
Em 2010, Alex Chilton veio a falecer, com problemas cardíacos. No mesmo ano faleceu também Andy Hummel, vítima de câncer, tornando Jody Stephens o único remanescente vivo.
Mas falando de #1 Record, o disco finca os alicerces do powerpop em faixas inspiradíssimas, como In The Street, Thirteen e The Ballad of John Goodo.
Curiosamente, ainda que a sonoridade de Radio City seja um pouco mais crua, a banda mergulha ainda mais fundo nas boas melodias, especialmente em I’m in love with a girl e September Gurls. Talvez por isso eu não consiga dissociá-los e esteja aqui fazendo uma resenha dupla.
Sobre a tal estrada, que mencionei no título me fazendo autorreferência, pensei em In The Street, apresentada a gerações posteriores como abertura da série That’s 70 Show em 1998. Não é mais a mesma, mas está sempre lá, para ser percorrida.
Brunno Lopez
O NÚMERO PERFEITO DE UMA BANDA PERFEITA
De todas as formas de Hard Rock que existem, a versão mais aperfeiçoada/versátil repousa nos ombros do Talisman. Claramente, uma das bandas mais injustiçadas da cena.
Em outubro de 2006, eles lançavam seu último ato: o sétimo álbum do grupo levou o nome de 7. Criativo? Aparentemente não, mas talvez fosse uma forma do destino de encerrar uma carreira muito competente. Isso porque, 3 anos depois, o baixista e fundador Marcel Jacob tiraria sua própria vida.
Mas antes disso, ele deixaria o 7.
Gravado pela Frontier Records, ele teve como título provisório a sigla BAR, que significa
“Bitter-Angry-Resentful”, basicamente uma piada que se referia à visão dos integrantes da banda sobre certos eventos da vida. Porém, quando estava próximo da data de lançamento, abandonaram a ideia e foram com o “7” mesmo.
A química de Jeff Scott Soto, Marcel Jacob, Jamie Borger e Fredrik Akesson é imediatamente reconhecida logo na faixa de abertura, Falling.
E mesmo que “7” seja extremamente mais acessível que os outros trabalhos da banda, é possível observar que os elementos que caracterizam o Talisman continuam ali.
Meu destaque fica com “Nowhere Fast”, “The 1 I’m Living For” e a balada que entra para as músicas favoritas de qualquer pessoa que escuta esse disco: “Shed a Tear Goodbye”.
“7” é um excelente álbum de Hard Rock, já dentro dos anos 2000, com um viés levemente mais pop que não compromete a essência criada por Marcel Jacob. Tem um valor inestimável por ser o último, mas encerra de forma digna e em alto nível.
É isso que o torna perfeito.
Ouça o 7 aqui
É isso pessoal! Espero que tenham gostado dos nossos comentários e dicas.
Abraços do nosso time!
Bruno Leo Ribeiro, Vinicius Cabral, Brunno Lopez e Márcio Viana