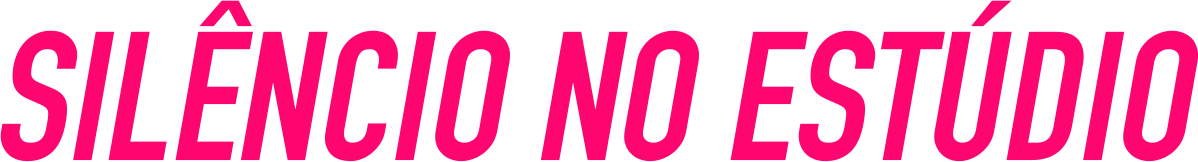27 de dezembro de 2021
Bom dia, boa tarde e boa noite queridos leitores / ouvintes do Silêncio no Estúdio. Daqui até o início de 2022, nosso time terá o espaço desta newsletter para abordar pautas livres. Podem ser lançamentos, dicas, reflexões sobre o mundo da música, etc.
PAUTA LIVRE
Por Bruno Leo Ribeiro
É NATAL É TEMPO DE RECONCILIAR

Todo ano faço uma promessa musical e tento lembrar no fim do ano se fui bem sucedido. Eu diria que em 2021 fiz tudo certinho. Prometi que iria ouvir o máximo dos clássicos do Funk e Soul que eu pudesse. Hoje em dia, com todo o acesso que existe no mundo, posso dar play e curtir o que nunca tinha escutado com carinho.
Entre os anos que fui passando e ouvindo, 3 discos ficaram se repetindo durante as descobertas e pesquisas pros nossos episódios de cronologia. O Pieces of a Man do Gil-Scott Heron, o Roots do Curtis Mayfield e o Maggot Brain do Funkadelic.
Desses 3, o que nunca tinha escutado na vida foi o Roots do Curtis e fica aqui minha recomendação imensa pra vocês escutarem um dos discos mais brilhantes do Funk/Soul que já ouvi. Ainda tenho muita coisa pra ouvir e tirar o tempo perdido, mas esse realmente tá bem acima mesmo.
Pra 2022, prometo dar chance pra algumas coisas que tenho o nariz torcido. Aproveitar o Natal pra perdoar pelos vacilos e pedir desculpas se falei bobagem demais. Quem sabe eu consiga curtir Bob Dylan, The Weeknd, Kanye West e até mesmo Guns N Roses em 2022? Vai que? 🙂
Ouça aqui o Roots to Curtis Mayfield
Por Vinícius Cabral
O ESTADO DA CRÍTICA

Em um agregado de 35 reviews, Sometimes I Might Be Introvert, da Little Simz é o melhor álbum de 2021. Mas … será?!
“Caímos assim em uma situação aparentemente paradoxal na qual enquanto a vida aumentou de velocidade – com a aceleração dos fluxos e circuitos de um capitalismo cognitivo hiperconectado – a cultura ficou mais devagar, estagnada na repetição kitsch e em formas zumbis”
Trecho do pósfacio de “Realismo Capitalista”, de Mark Fisher, por Victor Marques e Rodrigo Gonsalves.
As listas de fim de ano, com balanços e rankings de “melhores álbuns”, são sempre um prato cheio para polêmicas. Feliz ou infelizmente, me parece que cada vez mais será assim.
Sem nenhuma pretensão de responder a questões complexas demais (e correndo o risco de simplificar algumas), segue uma lista de takes sobre o abacaxi em questão:
1- Há um paradoxo entre a suposta necessidade contemporânea de se atingir veredictos imediatos e o tempo de depuração e análise de obras musicais. E essa é uma simples questão de distanciamento histórico. A música brasileira, por exemplo, é repleta de álbuns que passaram 40, 50 anos no completo ostracismo. Me vem à mente mais de uma dezena, incluindo obras de artistas ainda bastante obscuros, como Leno, Cassiano, Pedro Santos, Itamar Assumpção, Walter Franco, Alzira Espíndola, Ave Sangria, entre muitos, muitos outros (a lista é muito longa).
2- Tendo isso em mente, seria completamente absurdo imaginar que não estamos deixando verdadeiros clássicos mofarem no ostracismo. Em um ano em que foram lançadas uma média de 400 mil músicas por semana nas plataformas de streaming (imagine quantos álbuns, talvez a metade, ou um terço disso), qual a probabilidade de haver ali alguns clássicos escondidos? Provavelmente a mesma de haver vida fora do planeta terra (atualmente os cientistas estimam essa probabilidade em … 100%).
3- E é aí que as máximas de Mark Fisher e tantos outros teóricos se realizam. Em um ciberespaço capitalista de saturação, performance e objetivação artificial de metas matemáticas atribuídas a obras culturais, só se leva em conta aquilo que, de alguma forma, consegue surfar no topo do ciberespaço – topo que admite, no máximo, um “midstream” de brilharecos sazonais. Todo o resto é invisível e irrelevante para a máquina de novidades do mercado (que, na verdade, pouco nos mostra de novidades, efetivamente).
4- Isso significa então que a gente precisa achar mais tempo em nossos dias já completamente tomados para ouvir mais álbuns e furar as bolhas dominadas por jabás e algoritmos? Não. É óbvio que precisamos de curadorias e recortes. Pode-se argumentar se essas curadorias devem ser mais amplas ou mais específicas. Tendo a acreditar mais na segunda alternativa, mas este é outro enorme dilema, como veremos.
5- O que me leva a outro ponto central. A 20 anos atrás, pra ficar em um passado recente, você tinha o grande aparato das mídias de massa (TV, Rádio, jornal impresso, algumas revistas mainstream de maior tiragem) mostrando a superfície de um cenário cultural: o do pop mainstream, orientado por lógicas mercadológicas (incluindo o jabá). À margem disso, haviam revistas, sites bem rústicos, zines e programas alternativos de TV que se dedicavam à bandas de médio e pequeno porte – curiosamente, o espaço para o “alternativo” estava exatamente nas “brechas” de uma grande indústria. Isso significa que algumas revistas independentes, que hoje seguem ativas na web (como NME, Wired, Uncut ou Pitchfork), se dedicavam prioritariamente a este segundo universo, digamos, alternativo. Suas listas e reviews eram mais previsíveis, assim como as escolhas de “melhores do ano”. Com raras e honrosas exceções (como Outkast em 1998, por exemplo), artistas do mainstream não passeavam tanto pelas páginas desses espaços e pelas primeiras posições nos rankings. Em 2021, uma artista como Olivia Rodrigo, cria da Disney e pop até dizer chega, está em absolutamente todas as listas de todas as revistas citadas acima. Será que podemos seguir afirmando que essas mídias seguem sendo “independentes”, “alternativas” e “underground”? Às vezes parece que essa questão é irrelevante, mas não é.
6- Isso tudo significa o que? O público se diversificou e passou a aderir mais aos hibridismos? O mainstream, como um zumbi que infecta tudo e todos, invadiu o underground, deslocando o que seria alternativo a 20 anos atrás para um local de invisibilidade quase que completa? Eu tendo a achar que é um pouco dos dois. E que a crítica não está aguentando lidar com os desafios, e acaba por se apegar demais ou àquilo que já foi consagrado (que constitui, portanto, uma zona de conforto), ou àquilo que emerge de um intenso bombardeio midiático (com muita grana e jabá, como antigamente).
7- Isso tudo dificulta profundamente o consenso. Ainda dá pra tirar médias que apontam para os discos mais importantes de cada ano, mas, se analisadas em separado listas de peso como as das revistas que cito aqui, entre elas não há praticamente consenso algum. Mesmo entre os 10 primeiros colocados, poucos álbuns se repetem.
8- A menos que a gente esteja no Brasil. Aqui o consenso é possível. Não por preguiça ou por incompetência, mas por falta de diversidade mesmo. As poucas publicações que adquirem relevância são formadas por pessoas cujas referências culturais são muito similares (de uma mesma “bolha”, se assim preferirem). O que produz algumas cartas marcadas meio inquietantes.
9- Seja por excesso de visões fragmentadas, ou pela falta delas, é fato que temos um desafio histórico. Nos segregamos cada vez mais em nichos? Tentamos abranger tudo, do mainstream ao indie (como fazem os infames Prêmio Multishow e os Grammys)? Não tenho a resposta. Esse é um exercício que proponho para o grupo.
10- A minha proposta, individualmente, é não irmos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Definir recortes editoriais, como o Silêncio no Estúdio e outros projetos fazem, ano após ano, permite com que se garanta uma certa diversidade estética em uma cobertura mais genérica, escolhendo se aprofundar em alguns nichos. É um possível e potencial caminho do meio. Quando as mídias independentes se dedicam ao mainstream, é necessário que possamos fazer uma crítica aos recortes escolhidos, com muita parcimônia e paciência, é claro, e sem fórmulas prontas. Os problemas diante de nós são muito complexos para exigirem soluções tão simples. É preciso uma conjunção de fatores para que o jornalismo e a crítica musical voltem a ter a relevância que tiveram nas últimas décadas do século passado.
Esta conversa precisa continuar, de uma forma ou de outra.
Por Márcio Viana
SERÁ QUE É ISSO QUE EU NECESSITO?

Há mais ou menos um ano, em nosso episódio #111 – E o rock brasileiro?, promovemos uma discussão sobre os rumos do gênero. Assim como outros temas que já abordamos em mesas virtuais, este é um tema que não se esgota.
Tenho um interesse genuíno por trabalhos novos de bandas veteranas. Gosto de analisar como estas bandas (ou o que sobrou delas) se comportam em novos ambientes, e sobre como fazem para se manterem criativas depois de décadas.
Das bandas mainstream, tenho que dizer que poucas me parecem capazes de surgir com um novo clássico. Há as que sobreviveram se mantendo fiéis ao estilo que as consagrou, e promovendo trocas de integrantes, numa espécie de tentativa de “mudar para não mudar”, casos de Ira! e Plebe Rude, por exemplo.
O caso dos Titãs, porém, é bem mais complexo: reduzida ao trio Tony Bellotto, Sérgio Britto e Branco Mello, a banda hoje tem mais ex-integrantes do que integrantes (ao vivo eles contam eventualmente com o apoio dos músicos contratados Beto Lee e Mario Fabre).
Acho justo que os integrantes queiram continuar e até se adaptem a isso (Branco Mello assumiu o baixo e Tony Bellotto até canta algumas músicas), mas me incomoda um pouco essa sensação de que a banda exista apenas para defender seu legado. Apesar de terem lançado material inédito há cerca de quatro anos (a discutível “ópera rock” Doze Flores Amarelas), a banda ultimamente vem se dedicando a releituras de seus clássicos, como o projeto recente de versões acústicas executadas apenas pelo trio, sem os músicos de apoio.
Eis que em 2021 eles deram um passo ainda maior, lançando um EP de remixes de alguns sucessos da banda, deixando-os prontos para as pistas de dança. O problema é: seria possível desprezar a mensagem da letra de Epitáfio e dançar enquanto Britto canta “devia ter aceitado a vida como ela é“? ou enquanto Bellotto sofrivelmente vocaliza “você nunca me ouviu chorar” em Pra Dizer Adeus?
Veja bem: não tenho problemas com versões eletrônicas de músicas, inclusive os próprios Titãs já fizeram coisas ótimas como O Que? em Cabeça Dinossauro ou Deus e o Diabo em Õ Blesq Blom, mas este EP novo soa estranho, como se fosse um projeto pronto para as festas de reality shows transmitidas em um pay-per-view, em que o telespectador se preocuparia mais com o comportamento dos participantes durante a festa do que com o que rola nos alto-falantes. É válido? Não deixa de ser, como também faz com que a banda figure como aquela estrela morta cuja luz ainda irradia por um tempo.
(em tempo: quando – ou se – a banda lançar material novo, ouvirei com o coração aberto)
Por Brunno Lopez
A MÚSICA ALÉM DOS IDIOMAS CONFORTÁVEIS

Existem exercícios pouco comuns que costumam trazer surpresas transformadoras no âmbito musical. A maior delas talvez seja quando decidimos abrir a mente para mercados não tão convencionais em nossas audições cotidianas.
Este tipo de atitude nos apresenta possibilidades impressionantes, enriquecendo nossa bagagem cultural com artistas que não necessariamente figuram como destaques nas já tradicionais paradas mensais, semanais e demais playlists desse modelo de, digamos, rankeamento.
Nessa aventura de mergulhar mais profundo que os mares do inglês, português ou italiano, cheguei ao som irresistível de uma artista croata, que ousa transitar por ritmos dançantes variados em seu catálogo artístico, mostrando uma versatilidade admirável.
Com melodias marcantes, Lidija Bacic merece entrar para o hall de cantoras com uma língua nem um pouco mainstream, mas que entrega trabalhos dignos das mais retumbantes estrelas no universo pop.
Seu mais recente lançamento é um aceno natalino que não passa despercebido nem pelo mais desatento dos papais-noéis.
É isso pessoal! Espero que tenham gostado dos nossos comentários e dicas.
Abraços do nosso time!
Bruno Leo Ribeiro, Vinicius Cabral, Brunno Lopez e Márcio Viana