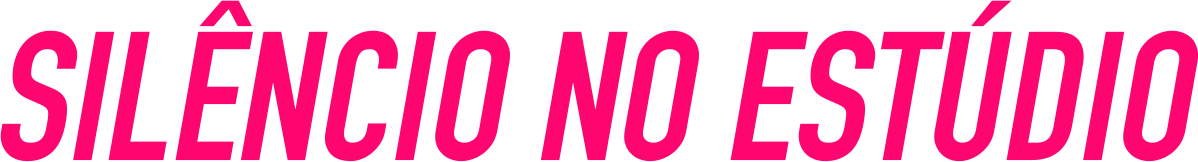31 de janeiro de 2022
Bom dia, boa tarde e boa noite queridos leitores / ouvintes do Silêncio no Estúdio. A newsletter desta semana é especial apenas com clássicos que se destacam na discoteca dos nossos colaboradores. Muita coisa velha, outras nem tanto, mas sempre com algo em comum: aquele “gostinho” de clássico. Discos que não saem da nossa cabeça e dos nossos corações, independente da época em que foram lançados!
IT’S A CLASSIC
Por Bruno Leo Ribeiro
CIDADE DO SAM

Semana passada, saiu uma matéria do Tim Burton dizendo que o The Killers é sua banda favorita e quando terminei de ler me deu vontade de dar um play num disco que lembro que comprei assim que saiu na época (já era coisa rara comprar CD, mas esse eu tive), o Sam’s Town do The Killers.
Já debatemos bastante aqui quando um disco vira clássico, pra mim, alguns já nascem clássicos antes mesmo de terem 10 ou 15 anos de idade.
E o Sam’s Town pra mim foi clássico instantâneo com hinos como When You Were Young e Read My Mind.
Com 16 aninhos de idade, esse disco envelheceu lindamente. Eu acho que agora que dei esse play depois de tanto tempo, gostei mais do disco do que quando curtia na época e olha que ouvi muito.
O primeiro disco do The Killers, o Hot Fuss, é mais cheio de hits e músicas dançantes e animadas, já o Sam’s Town trouxe uma coisa que eu AMO no The Killers, aquele temperinho Bruce Springsteen que faz eu simpatizar com qualquer banda.
Depois do Sam’s Town, a banda deixou de me emocionar tanto, até o lançamento do Pressure Machine do ano passado, mas esse disco será tema para uma outra Newsletter :).
Por Vinícius Cabral
A EMERGÊNCIA DOS ANOS 90

Outro dia, nosso querido Brunno Lopez abriu a caixa de pandora de 1999. Hoje é a minha vez de andar por ali (sim, admitindo mesmo que é spoiler).
Ainda no ano passado, correndo atrás dos meus CDs antigos, dei pela falta de um que nunca poderia ter desaparecido da minha coleção: uma cópia surrada e resistente de Emergency & I, da The Dismemberment Plan. Corri para os streamings para me lembrar dessa pérola, que já avacalhou completamente meu ano novo, haja visto o impacto que esse disco provoca em mim toda vez que eu o revisito.
Acontece que se trata de um álbum que, realmente, estava em 1999 apontando para muitos anos à frente. O que produz um efeito meio complexo nos indie heads como eu que costumam elencar outros álbuns de 1999, como The Soft Bulletin, dos Flaming Lips, ou o Le Tigre (do então novo projeto de Kathleen Hanna, Le Tigre, incrivelmente lançado no mesmo dia que este Emergency & I) como melhores discos daquele ano. 22 anos depois, eu já consigo ter uma visão mais clara dessas disputas. Se discos como Le Tigre e The Soft Bulletin apontavam diretamente para o modo que seria utilizado para trabalhar o indie rock nos anos 2000, o Emergency & I abria algumas outras portas – principalmente a de um resgate da complexidade composicional perdida em algum momento nos anos 90, em meio a uma certa abundância de apriorismos estilísticos rasos (que acabaram desaguando em mesmice e em uma enxurrada de bandas iguais, desejando emular um Nirvana ou um Weezer – banda que simplesmente desistiu depois de 1996).
Cada verso dessa obra prima da The Dismemberment Plan joga a mesmice para a puta que pariu, em um processo que ansiava por mostrar que ainda havia muito caldo para espremer da cultura indie que povoou a década. Algumas canções aqui, como Memory Machine, You Are Invited, Gyroscope e Back and Forth apontavam totalmente para o futuro. Mesmo nos momentos mais pop do álbum, como na magnífica What Do You Want Me To Say?, os maneirismos indie parecem revisitados, em uma porradaria nervosa e desconjuntada que soa como algo que um dia Rivers Cuomo sonhou em fazer (se fosse capaz, pós-1996, de começar uma canção com um verso como “I lost my membership card to the human race”).
Emergency & I é um salto quântico que revelava novos caminhos. Uma renovação necessária e urgente para um tipo de rock que perigava desabar em clichês. E desabou, diga-se, algumas vezes. Mas essa é a beleza dos resgates históricos: dá pra encontrar em 1999, um conjunto tão forte de álbuns que é difícil, mesmo com muita isenção e distanciamento, definir qual o melhor trabalho daquele ano. E isso pouco importa, na verdade. O mais importante é re-descobrir discos como este, e tentar retomar elementos de seu legado que possam ter sido diluídos em expressões mais descartáveis. Coisa que, definitivamente, aconteceu.
Por Márcio Viana
NO END AND NO BEGINNING

Em 1989 eu era um adolescente que ainda não tinha muita ideia do que queria do futuro. No entanto, o ano foi um divisor de águas em minha vida, a partir do momento em que passei a ajudar a cuidar da banca de jornais da família. Um mundo de publicações se abriu de forma sensacional, já que em momentos de pouco movimento, me restava ler tudo que fosse permitido. Tudo isso era acompanhado por um rádio ligado, alternando em períodos em que ficava sintonizado em uma emissora que tocava rock e outra com programação mais dançante, afinal meu irmão tinha 19 anos e frequentava bailes e casas noturnas (era essa época em que ficar com alguém exigia habilidades como saber dançar).
Foi por essa época e situação que acabei por formar um certo ecletismo no tipo de música que ouvia, já que era comum ouvir Blues Etílicos e Stone Roses de manhã e Madonna e Technotronic à tarde. Também ajudava nesse ecletismo o fato de eu devorar revistas como a Bizz e a Somtrês, especializadas em música, além das páginas de cultura do jornal.
E talvez tenha sido assim que eu tenha voltado minha atenção para Like a Prayer, da Madonna, com sua faixa-título bombando nas rádios pop e o clipe “polêmico” estreando no Fantástico, já que faltava mais de um ano para a MTV iniciar suas atividades no Brasil.
Curiosamente, nunca tive este disco em casa, mas tinha vizinhos que haviam comprado aleatoriamente, junto com discos de Michael Jackson e George Michael, e eu acabei por conhecer a obra por completo. Para além das radiofônicas Express Yourself, Spanish Eyes e Cherish, lembro de ter me impressionado com a parceria Madonna/Prince em Love Song, não tanto pela canção, mas pela união de dois ícones da música. E realmente faz sentido a minha estranheza: o fato de Madonna detestar ter de ir a Minneapolis para trabalhar com Prince (que por sua vez não estava a fim de ir até Los Angeles), fez com que os artistas finalizassem a canção à distância, com tudo o que significava fazer isso em uma época pré-internet comercial. Digamos que “não deu tanta liga”. Mesmo assim, está longe de ser uma canção ruim.
Há, ainda, uma parte extremamente confessional e reflexiva neste álbum, especialmente em ‘Till Death Do Us Part, relato do conturbadíssimo casamento da cantora com o ator Sean Penn e seu imperdoável histórico de violência doméstica.
Além da parte musical, a capa chama atenção pela referência: mostrando a cintura da cantora, com as mãos segurando o jeans com botão aberto, a barriga à mostra e algumas joias sobrepostas, remete tanto a Born In The USA de Bruce Springsteen quanto a Sticky Fingers, dos Rolling Stones, colocando a cantora no circuito das capas icônicas. Os anos 80 estavam ali, em seu final, e o mundo pertencia a ela.
Por Brunno Lopez
SLAVE TO THE GRIND

Um dos melhores álbuns dos anos 90 vieram de uma das bandas mais promissoras daquela época: ora, se não fosse o chicote estralar entre Sebastian e os demais integrantes, poderíamos estar vendo o Skid Row tal qual seu amigo de Hard Rock, o Guns n’ Roses, com turnês de reunião completamente sold out.
Infelizmente isso não aconteceu. Mas ao menos, o Slave To The Grind aconteceu. Carregado de hits e baladas, o álbum posicionou o grupo na prateleira respeitada do gênero. Impossível não se deixar levar por “Monkey Business” e não se impressionar com a faixa-título, completíssima com Bach entregando o máximo do que sempre se pediu dele.
Entretanto, o ponto álbum dessa obra é indiscutivelmente “Quicksand Jesus”. Um verdadeiro clássico de cinco minutos e vinte segundos irretocáveis.
Se eu for citar as baladas, aí o negócio vai ficar ainda mais sério. “In a Darkened Room” é uma aula de todos os elementos que uma música de baixa velocidade precisa, o próprio Scorpions gostaria de ter escrito tal hino.
E “Wasted Time”? Fecha o disco com elegância e poder, uma obra-prima imensurável de um grupo que estava no auge de suas capacidades criativas e de execução.
O rock era feliz e sabia.
É isso pessoal! Espero que tenham gostado dos nossos comentários e dicas.
Abraços do nosso time!
Bruno Leo Ribeiro, Vinicius Cabral, Brunno Lopez e Márcio Viana